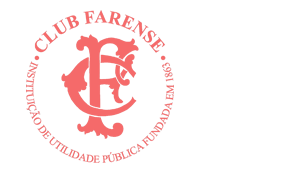Insólita Viagem
José Manuel Simões
Baixada Fluminense, alucinado surf train, Morro de Canta Galo, maconha e polícia | Sintonize a realidade que deseja e essa é a realidade que terá | No reino dos sentidos | Nestes tempos, precisamos aprender a amar de novo | Mentes abertas, artenativa e um novo Camões | No templo de Hare Krishna | Filosofia de comboio | Trip to a déjà vu place | Bombaim: Às portas do Inferno | A dois passos do paraíso | Tremores |
Sintonize a realidade que deseja e essa é a realidade que terá
- Partilhar 28/04/2023

Ouviu o burburinho da cidade, a roda
de samba em frente ao botequim, o entusiasmo
latente dos cariocas pela proximidade do
final da semana. No cimo do morro, o Cristo
do Corcovado. Desde a chegada ao Brasil,
fazia oito dias – Bíblia na mão aberta ao
acaso na varanda ensolarada da Casa do
Estudante do Rio de Janeiro – pedia que Ele
lhe encontrasse um espaço para morar. Entre
orações, fascínios e literatura, sentiu
saudades da mãe e ficou como que temeroso
do futuro ao ler Francisco Valverde
Arsénio, a alma... A noite ... A alma e a
noite: “pode a minha alma residir de forma
axonométrica na minha cabeça, pode viver
no meu caderno ou fora de mim, pode habitar
na minha caneta e nas metáforas em tons de
azul, que não sei se as anáforas
impregnadas de palavras têm espaço entre
as paredes para a guardar...”. Pousou o
poema antes de o terminar e ficou ali, na
parte de baixo do beliche, entregue ao
destino, cogitando sobre o que o Brasil lhe
reservava, o odor quente e seco da alma que
não envelhece nem morre.
A manhã
despertou e, qual obra divina, o diretor do
albergue perguntou-lhe se queria tomar conta
de uma casa em Copacabana. Ficou
impressionado com a resposta ao que
acreditou ser o poder da sua fé a mover o
destino e lembrou-se de uma frase que nesse
dia à tarde tinha ouvido proferir a um
rapaz com trejeitos de arrogância e
academismo, barba, óculos redondos, a mão
agarrando com demasiado aperto a da
namorada, uma menina de aspeto frágil, no
Amarelinho da Glória: “tudo é energia e
isso é tudo o que há. Sintonize a
realidade que você deseja e inevitavelmente
essa é a realidade que você terá. Não
tem como ser diferente. Isso não é
filosofia. É física”.
No carro do
ano do diretor, foi conhecer o casarão ao
lado do Clube Olímpico, Rua Pompeu
Loureiro, a seguir a um dos túneis que
rasga a floresta carioca, a Toneleiros, um
edifício antigo, três andares ocupados por
teias de aranha, um salão à entrada e duas
portas imensas bordadas a flores de metal
ocre, uma escadaria para o sótão onde a
penumbra tornava o ar ainda mais
fantasmagórico.
O doutor explicou
que tinha sido doado por um ator e que só
poderia ser usado para fins de arte
dramática. Não tremeu com o desconforto
mas quase se assustou ao pensar vislumbrar
um vulto por entre a penumbra. O astral era
tenso e o cair da noite não ajudava. Mas
como recusar?
Chegou antes do repor
da energia elétrica e da água potável e,
depois de ter percorrido a pé o calçadão
do Morro da Urca até ao fim da Avenida
Atlântico, subiu ao bar do 30.º andar do
Rio Othon, a vista sobre a cidade ainda viva
na madrugada.
Duas cervejas, e a
coroa ao lado, com o assumir da demente
melancolia, levou-o para o motel mais
próximo logo após cinco frases e poucos
minutos. Sussurrou-lhe que o fedor suarento
do sovaco a excitava e gemeu
desmesuradamente. Já tinha percebido a
libertinagem carioca; sexo, drogas e rock
n’roll rimando com pós-adolescência, sede
de soltar as amarras da que definia como
sendo “a caretice portuguesa”, dos tabus e
preconceitos que até então lhe tolhiam a
sede de liberdade.
Ligou para os
pais e avisou com uma convicção que o
surpreendeu: “Desculpem mas não vou voltar
para Coimbra. Vou ficar no Brasil. Adorei
este país; o Rio, cidade maravilhosa,
fervilha de vida; gosto deste dinamismo e
alegria; vou ficar”. Telefonava de um
orelhão, entusiasmado consigo mesmo e com a
firmeza evidenciada na agilidade das
palavras, como quase sempre que falava.
“Não se preocupem comigo que tudo vai dar
certo”. Do outro lado, a mãe chorava a sua
ausência, amor supremo e incondicional, e
ele, tentando consolá-la...: “sei que a
mãe reza por mim e que tudo vai dar certo.
Estou a trabalhar como ator na televisão.
Em breve irão ver-me numa telenovela.”
Ficou com o pi pi pi do telefone
desligado por mais alguns segundos encostado
ao ouvido e perspetivou que essa ideia da
televisão até que poderia ser uma boa.
Perguntou a um transeunte onde ficava a TV
Globo e apanhou o autocarro 732 seguinte. “O
jovem não é daqui não!”, reparou a
companheira de assento porque “a forma como
se agarra aí no varão como se tivesse medo
que o ônibus fosse virar é por não estar
habituado”.
No Jardim Botânico
cruzou-se com uma criança sozinha que lhe
pareceu ter Trissomia 21. Parou, olhou-a nos
olhos e pressentiu-a sem rumo. Aproximou-se,
tocou-lhe os braços de mansinho,
perguntou-lhe se a podia ajudar. Uma
lágrima escorreu-lhe pelo rosto delicado.
Confortou-a. Entre leves soluços, a
criança balbuciou que se tinha perdido do
pai. Uns parcos minutos e aproximou-se um
conhecido ator que o cumprimentou com um
gesto de gratidão. Reparando no seu “jeito
estranho de falar”, questionou-o sobre as
suas origens. “Hoje liguei para os meus pais
em Portugal e disse-lhes que, quando as
férias acabassem, ia ficar no Rio pois
quero ser ator de telenovela”, aproveitou. O
elegante senhor, aprumado no seu terno de
linho, pegou o menino pela mão, “por favor
acompanhe-nos que vou levá-lo ao gabinete
de dona Guta de Matos”. Apresentou-o,
“desculpe, qual é mesmo o seu nome?”, e
saiu, que tinha que ir.
As paredes
brancas decoradas com quadros retangulares
com fotos de estrelas familiares, reconheceu
o Dr. Mundinho Falcão – José Wilker – ao
lado da Gabriela – Sónia Braga –, Tonico
Bastos, Coronel Ramiro – o imenso Paulo
Gracindo, dona Guta por baixo, cabelos
brancos, corcunda, inteligentíssima.
Promovendo-se de forma espontânea e
exagerada – características da sua emotiva
personalidade –, mentiu-lhe que tinha
participado em peças do Teatro Académico
de Gil Vicente, que era aluno da
Universidade de Coimbra, que amava a arte
dramática; e mais umas tantas simulações
em falsificada representação. “Sabe, você
é jovem, bonito, elegante, mas tem esse
sotaque carregado e não é sindicalizado.
Vá no Teatro do Tabuado fazer curso
profissional e entretanto fale com o Roberto
Doverbal que ele lhe vai arrumar umas pontas
e figurações”. Despediu-se com uma vénia
e um beijo na mão que lhe entregara um
papelinho azul com dois números de
telefone. Na rua, extasiado e quase
perplexo, indagou-se a si mesmo: “o que
serão pontas e figurações?”
Roberto mandou-o estar às 11 horas na
Globo, deu-lhe uma saia de veludo e uma seta
de ferro bastante comprida. Ia fazer de
egípcio no programa do Chico Anysio, ele e
outro, um de cada lado da talentosa estrela
que mudava de personagem “enquanto o diabo
esfregava um olho” e fungava copiosamente,
diziam nos bastidores que por causa do pó.
No dia seguinte passou a saber, à
custa de tantas repetições, o que era
ser figurante, dessa vez de cinema, no filme
“Um trem para as estrelas”, do realizador
Cacá Diegues, com música do eterno Cazuza.
No seu jeito apressado, rapidamente percebeu
que o cinema não se compadecia com a sua
vontade de fazer rápido e bem.
Representou várias cenas por ali, no
comboio, na discoteca, a ler um livro –
“Atos de amor” – a Betty Faria com os seios
nus na discoteca do degredo sexual, ele que
no filme só apareceria ao minuto 1:00:48
durante 3 segundos. Entrou na telenovela
“Roda de Fogo” e o prenúncio concretizou-se. Fazia de fotógrafo das modelos, a
Bruna Lombardi a tentar interagir, e ele,
inicialmente tão convincente, a retrair- se
perante a eminência da paixão à
primeiríssima vista de carne e osso. Meu
Deus, a Bruna Lombardi com aqueles olhos a
brilhar como azuis águas-marinhas
perguntando-lhe de onde é que ele era, se
de Itália, que “niente”, França, “mais
non”, e a vergonha de ser confundido com um
portuga Manoel ou Juaquim a deixá-lo sem
jeito.
Rapidamente perdeu a timidez e
quando certa noite conheceu Gabriel O
Pensador ficou claro o quanto, sobretudo no
Rio de Janeiro, era importante estar atento,
esperto, aprender a derrubar barreiras e a
superar preconceitos. Gabriel tinha a perna
quebrada por causa de uma “peladinha”,
estava pálido; DuArte vislumbrou toques de
São Conrado onde o rapaz versado na rima e
som cedo aprendeu a transpor o gradeamento
do luxuoso condomínio fechado onde cresceu
para ir curtir com os amigos da favela da
Rocinha, uma das maiores e mais pobres do
Mundo, do outro lado da avenida, depois do
ponto de ônibus onde se topam bandidos de
arma de fogo em punho à espera de decidir o
assalto.
No reino dos sentidos
- Partilhar 17/12/2022

Em Marraquexe, a cidade imperial que na
antiguidade deu nome a Marrocos, convergem
nómadas e montanheses, mulheres vindas do
Anti-Atlas, vendedores de porções mais ou
menos mágicas, domadores de serpentes,
domesticadores de macacos, arrancadores de
dentes. Um verdadeiro espectáculo de cor e
exotismo.
José Manuel Simões
“Comei e bebei; que vos faça bom
proveito. Sentai-vos em fila sobre os
almofadões”, recebe-nos Hayat, tímida, olhos
pretos como carvão, mãos decoradas com hena
em motivos que começam com uma simples
figura geométrica, em círculo, bordada de
flores que formam um colorido padrão “para
dar sorte”. Aponta delicadamente um canto do
restaurante e afirma convicta: “É assim que
nos ensina o corão. A arte de bem receber é
um dever sagrado e um código de honra para
os marroquinos.”
Hayat parece ser,
como o seu povo, determinada e crente.
Inchalah - oxalá, se Deus quiser - é a
palavra que invariavelmente usa para
concluir as frases que expressa em francês
simplificado. Inchalah, a palavra mais
ouvida neste país profundamente ligado aos
valores sagrados da monarquia e da
integridade territorial.
Marrocos é
um país em mudança gradual. Um país de
jovens virado para o futuro. Dotado de uma
invulgar abertura geográfica que favorece a
unidade nacional e o reforço das suas
especificidades, é um privilegiado
testemunho da história da humanidade. Um
marco menos simbólico, porém, que o
islamismo, religião que é um dos pilares do
sistema sócio-político local.
Convivem as raças berbere, tuareg e
negróide. O traje tradicional, djellaba e
kaftan, mistura-se com as vestes regionais
que variam consoante as tribos. A cultura
árabe, islâmica na sua variante malgrebe, a
arquitectura de adobe, o Mediterrâneo
ocidental e o Atlântico, os três mil
quilómetros de costa, definem um país
heterogéneo e exótico.
O interior,
com os seus maciços montanhosos, filadeiros
estreitos e vales profundos, comanda a vida
da maior parte da população que, sobretudo a
mais idosa, é regida pelas normas do corão.
Mantêm-se as tradições seculares,
reflectidas nas medinas onde se testemunha o
antigo modo de vida magrebe. Costumes
enraizados coexistem, todavia, com a herança
ocidental: calor e frio, secas e inundações,
planícies e cordilheiras, penhascos e
bosques, tempestades de areia e de neve.
Desde o Estreito de Gibraltar até à
Mauritânia, Marrocos é um país surpreendente
que toca o reino dos sentidos, com quatro
cadeias montanhosas e rios bordados por
franjas verdejantes até às portas do deserto
cruzando gargantas.
Na cidade
imperial
Vindo da costa,
para chegar a Marraquexe, passa-se por uma
zona desértica onde se encontram cabras a
pastar em cima de argânias – árvores que só
existem em Marrocos e que dão uma noz da
qual se extrai um óleo alimentar –, algumas
com mais de mil anos. As cabras são às
dezenas, pretas, brancas, amarelas, cada uma
no seu ramo. “Elas adoram estas folhas e não
hesitam em trepar-lhes até ao cimo para
saboreá-las”, conta um jovem que procura
vender o óleo e que tenta a todo o custo
beijar uma turista ocidental.
Na
cidade imperial que na antiguidade deu nome
a Marrocos, berberes misturam-se com árabes,
convergem nómadas e montanheses, mulheres
vindas do Anti-Atlas vendem cestos,
narradores de histórias, músicos,
bailarinos, escritores públicos, vendedores
de porções mais ou menos mágicas,
curandeiros, domadores de serpentes,
aguadeiros, acrobatas, domesticadores de
macacos, comedores de fogo, arrancadores de
dentes, misturam-se num espectáculo de cor e
exotismo. Estamos na praça Jamaa Al Fna, a
maior curiosidade turística local, centro de
vida urbana nas suas múltiplas manifestações
de gente entusiasmada e participante.
Cenário de conto de fadas desperto todas as
manhãs pela chamada do altifalante instalada
no alto dos 70 metros da koutoubia, farol
espiritual da cidade. Nas sinuosas ruas da
medina, homens de passo apressado dirigem-se
à mesquita de Ben Youssef, erguida junto à
Medersa, a gigantesca Escola Coránica
fundada pelo sultão Abou-el-Hassan,
1331-1349, e um dos mais importantes
monumentos locais.
Surpreendem as
parelhas de cavalos puxando charretes com
turistas de todo o Mundo. Um dos cavalos que
puxa a nossa carroça é um puro sangue árabe,
pleno de elegância e um passado rico em
nobres conquistas. Em direcção à Avenida
Mohamed V, uma das maiores da cidade,
passa-se pela koutovia, construção do século
XII, e chega-se às portas da cidade,
castanha, movimentada, viva, onde o antigo e
o moderno se cruzam em harmonia.
Prazeres dos olhos
Caminhar nas medinas é uma curiosa
experiência para os sentidos. Sons, cores,
mulheres berberes vestidas com takcheta,
cobertas com djellaba e foulard da mesma
cor, de cócoras vendendo pão árabe, gente
apelando para que se visitem as suas lojas:
“Entrem só pelo prazer dos olhos”, dizem com
veemência. No interior, roupas e artesanato
árabe-muçulmano ou mourisco, podendo
observar-se o cuidadoso trabalho dos
artesãos de couro cosendo segundo métodos
ancestrais.
A principal atracção
turística da cidade fica no souk Elbahja,
situado no coração da medina, sendo o mais
extenso do Magrebe, com 600 hectares. Neste
espaço, classificado como património da
humanidade, misturam-se ruas labirínticas,
odores a açafrão, cominho, pimenta negra,
gengibre, cravo e flores de laranjeira com
tapetes berberes e trabalhos em couro,
barro, latoaria, cestos, jóias, bordados,
objectos de quinquilharia, babuchas, balghas
- sapatos típicos marroquinos -, meias de
lã, malas coloridas dos tuaregues, música
constante de tambores e flautas.
Antes de utilizar os dirhams, moeda
marroquina equivalente a cerca de 10
cêntimos, é indispensável que se regateiem
os preços. O guia, invariavelmente chamado
Mustafá e invariavelmente vestido com um
tarbouch na cabeça e um djellaba de linho,
algodão ou cetim, ajuda na orientação por
entre o labiríntico souk. Depois de entrar
numa loja é difícil sair sem comprar nada.
Servem-nos um chá de hortelã e menta,
mostram-nos os tapetes um a um, insistem na
venda. Ao voltar para as ruas do souk, se se
sentir perdido, o melhor é perguntar por uma
das inúmeras saídas que vão dar a Jemmaa el
Fna, a já mencionada mítica praça da capital
berbere e principal ponto de encontro da
cidade. No meio da medina passa-se por
esplanadas de cafés míticos, como o France e
o Argana, ou pátios de restaurantes célebres
como o Yocout e o Ryad Tamsna, locais de
eleição e monumentos que testemunham a
história de um povo.
No centro da
medina o primeiro monumento que se vislumbra
é a koutoubia, ex-libris local que, graças
aos seus 77 metros de altura, serve como
ponto de referência. Perto, o palácio da
Bahia, construído no fim do século XIX -
protótipo do palácio árabe - e o El Badi,
provavelmente o mais belo palácio do mundo
muçulmano, edificado entre 1577 e 1593 a
mando de Ahmed el Mansour após a vitória
sobre os portugueses em 1577; hoje em ruínas
que servem de enquadramento ao festival
folclórico realizado anualmente em Maio e
Junho.
Paraísos botânicos
Os jardins de Menara, com um monumento
com tecto piramidal reflectido nas águas
paradas de um tanque com 200 por 150 metros,
e os jardins de Majorelle, onde abundam
bambus gigantes e papiros, são dois locais a
visitar. Este último, criado em 1924 pelo
pintor francês Jacques Majorelle, é um
paraíso botânico às portas do deserto, sendo
o seu actual proprietário o costureiro Yves
Saint Laurent.
Conheça ainda a
palmerie de Marraquexe, a cerca de 10
quilómetros da medina, imenso oásis tropical
com cerca de 13 mil hectares de palmeiras
irrigadas pelos khettara, engenhoso sistema
de captação de água de poços e cisternas,
alimentadas por um outro igualmente
engenhoso sistema de galerias subterrâneas.
As avenidas são bordadas por flores,
os espaços verdes bem cuidados, as ruas
limpas como em nenhuma outra cidade do país,
a muralha cinturada de rosas, a luminosidade
invulgarmente bela.
Com estilo,
elegância e personalidade, o hotel Mamounia
merece, no mínimo, que se respire a sua
arte, o conforto e o luxo circundante. À
entrada, um porteiro fardado a rigor,
vitrais, fontes, pedra talhada. Ao lado, um
esplendoroso casino.
Pudicos
e conservadores
Apesar de
apenas 1,6% da população total aceder à
Internet - nos Estados Unidos a percentagem
é de 59% - proliferam os cyber cafés,
dirigidos essencialmente aos turistas. No
recomendado Albergue Ali - onde encontrei,
deitado no terraço por debaixo das estrelas,
um australiano recém viajado por Portugal -
conheci Hadji que, aparentemente sem motivo,
exclamou: “vocês, estrangeiros, não nos
compreendem. Não compreendem que nós somos
pudicos e conservadores”. E porque é que me
dizes isso?, indaguei. “Porque está lá fora
uma turista sentada numa cadeira a apanhar
sol com uma mini-saia e isso, aos nossos
olhos, não é correcto”. Perante a minha
curiosidade, prossegue: “Há muitos
estrangeiros ricos que chegam aqui e se
instalam. Compram as nossas casas
tradicionais e nem sequer se dão ao trabalho
de compreender a nossa cultura e a nossa
maneira de ser. Para além disso têm um nível
de vida que corresponde a um verdadeiro
insulto à miséria das gentes pequenas que
habitam na medina. O fenómeno está a chegar
aos limites e a prová-lo estão os cada vez
maiores incidentes entre os residentes
locais e esses novos emigrantes”. Das 40 mil
casas tradicionais situadas no centro da
cidade, classificada de património da
humanidade pela Unesco, 406, ou seja 1%, são
propriedade de não marroquinos.
O
comércio, o turismo e a cultura, prosperam
na cidade, graças à sua privilegiada
situação geográfica, ponto de chegada e
partida de estradas, confluência de norte e
sul, deserto e oceano, riqueza histórica.
De madrugada ouve-se, cinco vezes quase
seguidas, a chamada para a reza sagrada em
nome de Allah. Infelizmente, o acesso às
mesquitas - com excepção para o Mausoléu de
Mohammed V, em Rabbat, o Mausoléu de Moulay
Ismail, em Meknès, o Mausoléu de Moulay Ali
Chérif, em Rissani e a Mesquita de Hassan
II, em Casablanca - é proibido aos não
muçulmanos. No entanto, e apesar de o
islamismo ser a religião oficial, coexiste
com outras confissões e credos, até porque
isso está garantido na constituição. A vida
religiosa segue, todavia, o calendário
muçulmano.
De alguns pontos da
cidade vêem-se as montanhas do Alto Atlas
com as suas altivas silhuetas onde se
pratica esqui, de Novembro a Maio. O ponto
culminante deste maciço, o Toubkal, tem
4.176 metros de altitude.
Partimos em
direcção a Sidi-Mokhtar, região desértica,
onde se encontra um oásis junto a um rio
completamente seco. Até Âit-Ourier, rumo a
Taddert, já no deserto, percorrem-se
montanhas cobertas de pedras com coloridos
cristais, aldeias minúsculas com casas
feitas da mesma pedra amarela, enormes
maciços, íngremes, e o Atlas, imponente e
dócil, lembrando praças enfeitiçadas com as
suas torres hirtas afagadas pelo céu.
Nestes tempos, precisamos aprender a amar de novo
- Partilhar 23/08/2022
Música é união, comunhão, laços,
emoção. Juntar mil músicos (!!!), cantores,
guitarristas, baixistas, bateristas, de
todas as idades, sexo, preferências sexuais
e etnias, em locais de eleição em volta de
canções emblemáticas que fazem parte da vida
de muitos de nós, é algo de admirável.
A
primeira destas canções que juntou mil
músicos e que um amigo me deu a conhecer -
daí se intitular “Rockin’1000” - foi gravada
em Cesena e tinha como objetivo pedir aos
Foo Fighters para irem atuar naquela região
de Itália, “terra de paixão e criatividade”.
Daí resultou “um milagre”, como o intitulou
o sonhador desta ideia, Fabio Zaffagnini. A
canção chama-se sintomaticamente “Learn
to Fly” e pode ser ouvida e vista ao
ponto de nos espantar. Não é certamente por
acaso que o vídeo foi visto mundialmente por
mais de 32 milhões de pessoas.
Depois desta, que ouvi vezes sem conta
de seguida, encontrei outras canções
memoráveis igualmente tocadas por mil
músicos como “Bitter
Sweet Symponhy” dos The Verve,
Highway to Hell, dos ACDC, neste caso
gravada no Estádio de França em Paris, e no
mesmo local, em 2019, um tema conhecido de
todos nós, “Smoke
and Water”, dos Deep Purple. Regozijei
particularmente ao ouvir os 1000 a
interpretarem a minha banda rock francesa
preferida de sempre, os Telephone, com “Un
Autre Monde”!!!
De busca em
busca, encontrei “I Was Made For Lovin’You”,
dos Kiss, “Bohemian Rapsody”, dos Queen,
“Another Brick In The Wall”, dos Pink Floyd
- neste caso com 400 músicos e um coro de
crianças - “Enter Sandman”, dos Metallica,
com 500 músicos, “Where is My Mind”, dos
Pixies, “21 Guns” dos Green Day tocada por
70 músicos no Strykovskiy Park, Samara,
Rússia, “Should I Stay or Should I Go”, dos
Clash ou, e neste particular por gostar
muito da Holanda, dos holandeses e desta
fabulosa canção do Neil Young, “Rockin
in the free world”, gravada por 250
músicos no meio da cidade de Haarlem.
Sei que muitos vão considerar estas
canções, aqui tocados e cantadas em
simultâneo por centenas de pessoas no melhor
da sua felicidade e emoção, muito
barulhentas e nem sempre interpretadas em
uníssono. Mas que importa isso?!... É rock,
e por rock ser, deve ser tocado muito alto,
muito vivo, com muito sangue quente, vida em
nós.
Nestes tempos em que não é
fácil viajar, procurei várias vezes sonhar
acordado sem sair do quarto, usando
principalmente a música como catalisador,
componente essencial da minha interna
combustão. E, neste particular, duas canções
ajudaram-me a processar reações, a acalmar,
a encontrar caminhos alternativos à viagem,
reagindo com uma menor ativação de energia,
quase sempre parado, exercitando novos
sentimentos e formas de amor, como a
gratidão, nomeadamente a Macau por me ter
poupado ao vírus, e à vida que me concedeu o
privilégio de entre milhões de
espermatozoides me deixar nascer. É que,
desculpem-me algum exagero, encaro o facto
de ter nascido como sendo o maior milagre da
minha existência. E sim, as duas canções
foram, são, “Live Lounge Allstars - Times Like These”, BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge, cantada e tocada a partir de casa
por músicos que na sua maioria desconhecia
mas que me continuam a deixar em mim esta
sensação de que em tempos como estes em que
vivemos, devemos aprender a amar de novo.
A outra é “Stop
Crying Your Heart Out”, BBC Radio 2
Allstars, escrita e composta por Noel
Gallagher, interpretada por inconfundíveis
vozes como as de Bryan Adams, Cher, Lenny
Kravitz, Kylie Minogue, Robbie Williams,
entre muitos outros, unidos em
solidariedade, comunhão de afins, laços de
irmandade, emoção até às lágrimas,
compaixão, amor pelo próximo.
Mentes abertas, artenativa e um novo Camões
- Partilhar 02/08/2022
Horas depois de ter chegado a Macaé,
ao percorrer sem direção a rua principal,
a Rui Barbosa – que escreveu “De tanto ver
triunfar as nulidades, De tanto ver
prosperar a desonra, De tanto ver crescer a
injustiça, De tanto ver agigantarem-se os
poderes nas mãos dos maus, O homem chega a
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra,
a ter vergonha de ser honesto” - ouviu
alguém a declamar poesia. Parou;
identificou o lugar concreto de onde vinham
as vozes, abriu uma porta, subiu uns
degraus, abriu uma outra porta, entrou e
surpreendeu-se com tanta gente bonita. Findo
aquele poema, dito por uma voz musculada,
passaram-lhe o microfone para a mão. Com o
ritmo cardíaco em aceleração súbita, fez
uma emocionada colagem de palavras suas e de
outros poetas portugueses: “Bate levemente,
Como quem chama por mim, Será chuva ou
será gente, Gente não é certamente e a
chuva não bate assim”. Olhando na direção
de uma menina, aos seus olhos a mais
formosa, prosseguiu, agora mais excitado que
nervoso: “É fogo, Fogo que arde sem se ver,
Uma luz, Um brilho, Olhos raiando por te
ter, E um coração, Um coração a bater”.
Entre aplausos alguém pegou o microfone de
volta: “diretamente de
Portugal...Camões!!”. E assim ficaria
conhecido em Macaé e no Brasil: Camões, o
poeta.
A qualquer bar que fosse
pediam-lhe para recitar um poema. Cada vez
mais ousado, convicto, subia a uma cadeira e
recitava, de improviso, deixando jorrar as
palavras, soltas e com sentido, sempre
emotivo, laivos de performer e alguma arte,
quase sempre dramática, a voz grave,
metálica, conectado com a terra e o espaço
celeste.
Um argentino que estava
hospedado no 3 estrelas onde Camões já
dava cartas ao balcão, sobretudo pela
simpatia e fluência de línguas, convidou-o
para uma festa na Praia dos Cavaleiros. Para
sua surpresa era o mesmo grupo, o da poesia,
que fazia uma festa transmitida ao vivo pela
Rádio Macaé e onde a elite cultural local
revelava palavra lavrada em mel. A dois
passos do mar e do vento que soprava solene,
a carne vazia abandonada.
A casa,
que viria a ser o Tóquio Bar, tinha jardim,
um telhado de pagode chinês, vidro e
madeira. O ambiente estava esplendoroso, com
gente ilustre e muito charme. Um rapaz que
mais parecia uma boneca de porcelana falava
que “com algumas pessoas você perde tempo;
com outras você perde a noção do tempo”;
“os abraços foram feitos para expressar o
que as palavras deixam a desejar”. Alguém
recitou Joaquim Pessoa focado na vida, que
“é exigente porque é generosa. É dura
porque é terna. É amarga porque é doce.
É ela que nos coloca as perguntas,
cabendo-nos a nós encontrar as respostas.
Mas nada disso é um jogo. A vida é a mais
séria das coisas divertidas”.
Dauro
Franco declamou “Só um Deus pode ter a vida
eterna ou mesmo um curto instante entre as
suas pernas”. Camões escreveu para a mesma
menina, a Norinha Borges, por quem pensou
estar apaixonado desde que lhe tocou o
olhar, primeiro minuto lá na casa da rua
Rui Barbosa onde, numa banheira sem água,
tinham acabado a noite a poetizar.
Subitamente ouviu alguém a recitar o que
tinha acabado de escrever para Norinha.
Aquilo era confidente, pensou, algo
envergonhado, recostado num sofá do
primeiro andar. Desceu as escadas e viu-a
abraçada a um jovem que o olhou com
carinho, um olhar que parecia dizer “seja
bem-vindo porque vem por bem mas ela já tem
namorado”. Fernando Marcelo, o namorado,
poeta, ativista, ecologista, cultura
enraizada em dois pais cultos; a Lucy,
psicóloga, fazendo a diferença com
sensibilidade e bom senso, recebendo o Outro
de mente aberta; e o Guarasil, um homem que
apesar de ouvir mal via muito além.
Fernando Marcelo era sobretudo um
dinamizador cultural. Tinha um jornal, o
“Artenativa”, onde as gentes das letras, das
palavras e das imagens davam asas à
liberdade de criar para uma imensa minoria,
e um varal de poesia que ajudou a mexer com
as consciências e a colocar em causa o
estabelecido. Ihoanna e Marcelo Puertas,
filhos acabados de serem bebés e a darem os
primeiros passos com as palavras - Marcelo
guarda religiosamente o seu primeiro poema,
escrito a duas mãos com Camões - também
estavam por ali a beber da cultura. Martinho
Santafé, copo na mão e palavra solta,
usava o microfone: “Meu amor, eu e você
temos algo em comum. Você bebe coca-cola e
eu bebo rum”.
No final da noite,
Camões rolava na relva daquela casa de
charme - onde viria a morar durante um ano -
com a cunhada de Martinho, bocas
entrelaçadas em prazer, Santafé dizendo um
poema que Camões nunca esqueceria: “o
pássaro elétrico emite passaportes para o
céu. Na orquestra dos fios rima voo com
azul. Deflorando a manhã como um
helicóptero bêbado”. Fernando Marcelo
proferia em tons de amor que “onde quer que
vá levarei sempre comigo a sensação de
que uma parte de mim anda por aí em forma
de mulher, vento ou poesia”. Sandra Oliva
Wyatt construía jogos magníficos com as
palavras, poemas sem fronteiras: “Aponte,
para dentro de si, a ponte que religa a
natureza que aflora fora, sem nunca abdicar
de sê-la”, vampirizando palavras que
escorriam húmidas na noite suada, a brisa
do mar, a madrugada deliciosa, a saliva
discorrendo pela boca. “Visão de poesia
sugando o poema para dentro deflorando no
poeta a sentida inspiração!”. Sandra tinha
um jeito de tratar as palavras que era novo
para Camões, uma desconstrução criativa
que desconecta as sílabas e as deixa voar
até às suas próprias nuances, poemas
in memoriam, metamorfose também de
corpo que forja “a forma da madeira
esculpindo a derradeira hora. As cinzas são
restos mortais das brasas que pai aqueceu do
frio a família descendente de agora.
Lágrimas são transformadas em canto que ri
e chora. O amor é feito de asas...”. Havia
a presença inspiradora de Cláudio Porto
que a doença levou; Bebeto, sublime,
escrevia muitas vezes em retribuições e
suspiros de Rainer Maria Rilke: “Mais do que
a volúpia e dor Maior que a vontade e
resistência Solitária forma silenciosa e
durável De amor e desejo. Vejo nos animais
encontro nas plantas. Não por gozo Nem por
dor Mas por necessidades maiores Que a
volúpia Que a vontade e resistência. Vida
que se renova. Ondas de espumas brancas
Abri-me os olhos. Sorrisos, crianças, seres
alegres Sémen que se faz fruto. Ilhas da
vida Transbordai em mim sua fecundidade
Tornai-me grávido Em constante maternidade
Solitária, de beleza e amor”. Paulinho
Moraes servia com requinte, um sorriso
único finalizado com uma risada
inconfundível, os olhos a fecharem-se na
cabeça ligeiramente tombada em bailado
sincopado de muitas boas ondas. Artur Gomes,
homem de Campos e de gumes, declamava,
pausadamente, “com os dentes cravados na
memória Soletro teu nome C a b o f r i o
barco bêbado naufragado fora do teu cais
Caminho marítimo para as Índias por onde
talvez já passou meu pai”.
Camões
sentia-se em casa, piscou o olho a Martinho
Santafé depois de ter declamado “Um urubu
pousou em minha sorte”; pegou em “A nau dos
corvos” de Ruy Belo que estava em cima da
mesa e que mesmo lhe parecendo
descontextualizado apreciou. “De súbito ao
cair de mais um ano sou por instantes
sinto-me ao cair da tarde do sol que antes
brilhante é luz lustrosa e pegajosa agora
à superfície da calçada na humilhante
morte de quem era alto eterno e dominante
sou ao cair da tarde de um ano que cai eu o
poeta o instalado o mais que muito
aburguesado um coletivo passageiro num
elétrico mas só supostamente anónimo ou
popular...”. Aldo César escreveu-lhe alguns
dias depois: “A paixão que ti demora, É a
fórmula da tua vida, E a vida de tua
paixão, É a forma sem norma, É a fórmula
de ti, Nesse imenso cubículo espacial que
é seu útero in te ira mente universal”.
Por vezes, encontravam-se para
recitar poesia, dando vida e voz a uma arte
tradicionalmente oral, improvisarem,
escreverem a várias mãos. Uma das mais
frequentes parcerias era a que unia Camões,
Dauro Franco e Fernando Marcelo: “E a lua se
põe em mim escandalosa Pouso um beijo na
rosa Pantera negra Enterrada no jardim Em
ocaso, luz e por de mim”. Fernando
improvisava “Quando minha língua Entra em
ti Teu sabor geme”, Camões respondia com
“Cores de luzes Caras de seres Poetas
cantando saberes”. Camões jorrava poesia da
alma enviada aos corações que acolhiam o
seu corpo em abraços de mãe. Sentia-se
confortável por entre sorrisos encantados e
esperanças sem fim. As suas manhãs
acordavam sem muitas vezes ter dormido,
melodias soando com o sol a querer brindar
alguma felicidade que sempre existia por
ali, rendendo graças à Primavera, a da
poesia e a do amor, lembrando Bertolt
Brecht: “Se não houver frutos Valeu a
beleza das flores Se não houver flores
Valeu a sombra das folhas Se não houver
folhas Valeu a intenção das sementes”.
Foi então que apareceu Danjavi – que
lhe chamava Joma Dassissi – para lhe
alimentar o ego, dar-lhe muito e bom sexo,
partilhar poesia. Ela escrevia-lhe “És como
tímido e escandaloso És como o mar
imprevisível Dependes da Lua” e ele
respondia-lhe “Encontro-te nos carinhos que
me fazem crescer, Caminhando no cume de
minha montanha, Meu sonho real de ser
totalmente feliz”.
No templo de Hare Krishna
- Partilhar 30/12/2021
Um grupo de jovens, vestes laranjas e
um tufo de cabelo na cabeça rapada,
aproxima-se da linha 7 e por lá fica a
cantar: “Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare”. São devotos de
Krishna, conheço o cântico, sorrio. Decido
ir ter com eles e meter conversa com uma
moça morena. Chama-se Nooran e tem um olhar
puro e magnético. Convida-me a ir com eles a
uma cerimónia num velho templo perto do
Regency Hotel. Aceito pelo fascínio que ela
me desperta e pela minha busca interior, mas
não imaginava que por lá iria ficar durante
22 dias, com Nooran sempre por perto,
afável, como se me quisesse proteger. Ou
seria converter?
Deixei-me levar,
entrando num estado de oração e meditação, o
culto da alma que sei nunca morre. A
atmosfera é solene, a paz reina no ar, oro,
oro muito, peço a Deus que me mostre o
caminho, que me encha o coração de alegria.
Rezamos em círculo, um terço enorme de bolas
de madeira na mão, esporadicamente comemos,
apenas o essencial, frutas e vegetais.
Nenhum dos elementos do grupo come carne,
bebe álcool, fuma ou toma drogas. Constato
que vivem juntos, em comunidade, têm os
mesmos hábitos, costumes e normas, cultivam
a alma em função de um ser superior,
Krishna, mensageiros do que acreditam ser
uma divina graça. Tal como eles, também eu
acredito numa outra vida para além desta e
daqui. Fico amigo de Nooran e de Hari-Nam,
nome que significa servente das missões de
canto de Krishna, jovem de traços orientais
de ascendência vietnamita, uma bolsa branca
na mão com as peças de madeira
correspondentes a cada oração ou hino que
canta em tom leve, quase em surdina, hinos
de amor, por vezes acompanho-a
ajoelhando-me, agradecendo, adorando,
orando. A música de cítara inebria-me os
sentidos, também eu canto, eles dezenas,
talvez centenas de vezes ao dia, “Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare”.
Por vezes, ainda de
madrugada, acordamos ao som de uma voz
gravada: “a tua alma foi-te dada no momento
em que foste gerado, fruto da relação entre
os teus pais. Aquando da tua formação tens a
consciência da vida que tiveste
anteriormente; esqueces no momento em que
nasces, quando puxam a tua cabeça, desmaias
e entras neste plano. Esqueces então todo o
teu passado para começares a viver uma nova
vida, aprendendo as coisas erradas que já
os pais dos teus bisavós lhes ensinaram, mas
agora em ti, cada vez mais errado através
dos tempos”, reforça.
Richiquiche,
“servo do amor divino”, gosta de me falar.
Em longos monólogos revela que acredita que
há́ apenas um só́ Deus. “Crito, Buda,
Jeová, Krishna, são apenas mensageiros em
diferentes tempos e lugares desse mesmo e
único Deus, supremo”, exclama, convicto,
antes da 15.ª oração do dia.
Quando
não reza Richiquiche é um falador; os seus
monólogos duram horas, as ideias correm-lhe
depressa, a vontade de falar desse Deus é
tão grande que não se consegue conter. Sorri
sempre. Tal como todos os outros, parece ser
realmente feliz.
Tem 27 anos.
Pergunto-lhe se pensa ficar aqui durante
toda a sua vida: “estou certo disso. Que
iria eu fazer numa reles vida material?”,
responde-me com uma luminosidade no olhar
que me espanta. Mesmo que, aparentemente,
privados, sem mulher ou homem, diversão ou
arte, conseguem um estado de aparente
contínuo bem-estar. “Para que iria eu
trabalhar no mundo material? Ganhar
dinheiro, comprar uma casa e um carro,
correr de um lado para o outro apressado e
sem paz? Aqui só́ como o necessário, não
tenho problema nenhum, não olho para o
relógio nem preciso de cumprir horários, não
me canso, vivo em paz e serenidade. Mesmo
quando cuido de uma das nossas dez vacas,
cultivo os nossos legumes, cozinho para
todos ou vou espalhar a nossa palavra à
cidade, sinto-me bem. Sinto-me sempre bem.
Porque penso e canto o nome de Krishna.
Sabes, estou certo de que, se cumprir sempre
para com Ele, nunca nesta vida irei voltar a
sofrer ou a ter problemas. Porque iria viver
a má vida material lá de fora se poderei
ser feliz todos os dias da minha vida aqui
dentro?”. Acrescenta Hari-Nam: “Observa uma
foto de quando eras pequeno e compara com o
que és agora. A tua alma é a mesma, apenas
o teu corpo se vai transformando. Então, o
que achas? Deverei eu, deveremos nós,
cultivar o nosso corpo, dando-lhe carne, ou
alimentar a alma, meditando, fazendo orações
ao nosso Deus, o todo poderoso? A mente
está sempre a fugir do nosso corpo, a
pensar no passado, a programar o futuro, mas
nunca ou raramente a viver o presente, o
momento. Sou de e para Krishna, adoro-O”,
aponta para uma menina pequena de estatura,
pureza no olhar. Tal como todos os outros,
crê que foi Deus que me trouxe até aqui.
“Foi a sorte, a mão de Krishna que
com a sua bênção e o seu poder me indicou o
caminho. Como o indicou igualmente a ti no
momento em que te aproximaste de Nooran”,
acredita Hari-Nam, inspirando-me confiança.
A campainha soa no silêncio da
madrugada, todos se levantam ao amanhecer,
com o nascer do sol, o toque indicando que
brevemente o pequeno-almoço estará́
preparado. Depois de um banho numa casa de
banho bastante rústica dirijo-me ao templo
central onde todos se encontram de cabeça no
chão a rezar a oração de agradecimento pela
refeição que se irá seguir.
“Primeiro, temos que oferecer a comida a
Deus, pois tudo o que fazemos e tudo o que
temos a Ele o devemos”, refere Nooran, já
na mesa, curiosamente uma frase que a minha
avó me costumava dizer no mesmo tom.
Pergunta-me se acredito na imortalidade do
espírito, se acredito em reencarnação, se
acredito nos ensinamentos do Livro dos
Espíritos, se Deus habita em mim. Aceno-lhe
com a cabeça em sinal afirmativo. “Então
acredita que o teu espírito foi planeado
para viver esta tua reencarnação.”
Naquele momento percebi que não valia a
pena. Não valia a pena correr, sofrer,
pensar demais, preocupar-me com o que quer
que fosse. O que tiver de acontecer,
acontecerá, disse para mim mesmo,
compreendendo que quando sofro não mudo nada
e que o meu êxtase não é garantia de
tranquilidade duradoura. Tudo virá a seu
tempo, independente dos meus desejos.
Aconteça o que acontecer, quando acontecer,
como acontecer, ou mesmo que não aconteça, o
importante é estar em paz.
Sinto-me
bem, consciente que o poder do amor a Deus
pode transformar todos os problemas numa
gota de água, que esse poder é a chave de
tudo, uma parte do nosso amor incondicional,
não palpável, não carnal. O que neste
momento sinto é uma felicidade serena e
silenciosa que me faz bem, talvez reflexo do
trabalho interior que tenho vindo a fazer.
Há́ quantos dias cheguei aqui? Mais do que
nunca estou a aprender a conhecer-me, a
valorizar-me, a celebrar o meu amor ao
supremo. Uma felicidade que cura as minhas
mazelas, as que me assolam desde pequenino,
uma felicidade leve, verdadeira, simples e
constante. A decisão de receber Deus dentro
de mim é só́ minha, depende apenas do meu
interior, da minha força, querer, vontade,
mas mesmo essa decisão eu não quero tomar
agora. Procuro-me e isso é o bastante.

Filosofia de comboio
- Partilhar 29/09/2021
As últimas
réstias de sol tentam romper por entre as
frestas da imunda janela do comboio, lá fora
as árvores raras, o coração vazio da
Índia, as palavras dos meus companheiros de
improvável viagem coladas em desalinho
aprumado, saltando das caraterísticas
geográficas para a economia, da cultura
para a política. “A primeira-ministra
Rajive Gandhi foi assassinada por movimentos
extremistas que não aprovaram a sua
decisão de enviar tropas indianas para o
Sri Lanka. É preciso não confundir Rajive
com Indira Gandhi, aquele morto pelos
sikhs,
gente que se cobre da cabeça aos pés, que
possui a sua religião própria e os seus
templos em toda a Índia”, conta,
pausadamente, Sitaram. Joginder completa: “A
Índia é muito difícil de entender. É
quase um sub-continente, com castas e
religiões antagónicas. Nem nós mesmos nos
conhecemos”. Recordo-me de um poema de
Poliana Oliveria: “Hoje acordei com vontade
de ser mais eu, de me olhar no espelho e
falar que eu quero, eu posso e consigo. Que
sou muito além do que imagino; que posso
surpreender-me comigo mesma, e que a minha
felicidade não depende de ninguém além de
mim...” M.Ahmled – leio-lhe o nome do lado
esquerdo de uma blusa verde escura - vem à
carruagem perguntar o que queremos comer. As
opções são escassas: sopa de tomate,
chapati, arroz branco cozido com carne e
legumes e frango de caril.
Sitaram é
bancário. Comunica com Joginder em inglês,
“a língua que une o nosso povo”. Sitaram
fala tamil, Joginder punjab da
zona de Punjabi, línguas que não se cruzam
nem se compreendem. Oficialmente falam-se 14
idiomas em toda a Índia. Na prática
existem centenas. Inúmeros dialetos numa
mesma região. Tão diversos como este país
de castas e gente tão estranha, capaz de
provocar no forasteiro os sentimentos mais
antagónicos. Uma das mordomias de viajar em
2a classe a.c – com ar condicionado – é ter
direito a um lugar num compartimento com
quatro camas. O revisor confirma o bilhete e
distribui um pacote de papel contendo dois
lençóis, um cobertor com a inscrição
Central Railway e uma pequena toalha de
rosto que entrega juntamente com uma
almofada. Caiu a noite. O comboio continua a
sua marcha sem que se saiba bem em que
direção segue. Lá fora escuro breu da cor
da minha t-shirt, calções e
chinelos. Será que a “Briosa”, equipa onde
o meu avô Francisco Meireles, formado em
medicina e a pessoa que mais influenciou a
minha carreira profissional, jogou e nos
ensinou a gostar, ainda está a lutar para
subir de divisão?
Trip to a déjà vu place
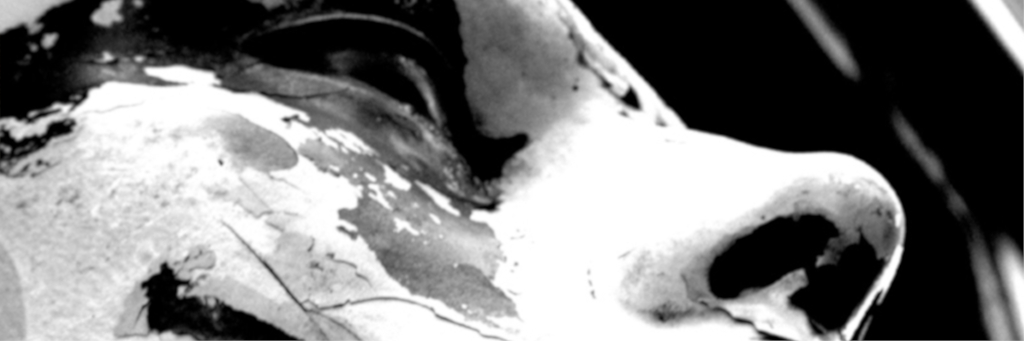
The term déjà vu is French and means, literally, "already seen". I’m sure that all of you have experience this at least once or have felt you have witnessed a current situation before, although the exact circumstances of the previous encounter are uncertain or perhaps imagined. This experience is usually accompanied by a compelling impression of familiarity, and a sense of "eeriness", "strangeness", or "weirdness". The phenomenon is rather complex, and there are many different theories as to why déjà vu happens. I’m telling you this because some years ago I went to Laos to give a public lecture. I crossed the border at Mukdahan (Thailand) and went to Savannakhet Town, founded around 1600 and colonized by the French between 1893 and 1953. I can tell you that you feel the French influence in the air, in the historic buildings, in the streets where there’s a mix of Vietnamese and Chinese citizens. Right away, I had a strange feeling of déjà vu, an overwhelming sense of familiarity with something that shouldn't be familiar at all, because, at least in this life, I had never been there before. I went to Talat Yen Plaza, a long rectangular shape surrounded by old colonial houses, to the Catholic church, to the Theatre “Lao Chaleun” – someone explained to me that “chaleun” means “civilization” in Lao – with it’s façade in the Art Deco style that spread throughout the world between the 1910s and 1930s, and suddenly it seemed to me as if I had been in that very spot before.
Bombaim: Às portas do Inferno

Um táxi amarelo e preto, enferrujado, cobra-me uma fortuna, deixa-me no meio de homens em tronco nu a dormirem no ladrilho de uma suposta agência de viagens. Aproxima-se um
mini bus, alguém insiste para eu entrar, oferece-me hotel e haxixe de Caxemira ou de Abgani. Diz que um “é puro e o outro tem químicos”. Não durmo há 24 horas nem sei quanto pesam dez gramas nem quantos euros são cem rupias. Já estou dentro da viatura em movimento quando constato que o homem tem cara de bandido. Lá fora há gente espalhada em cima de tábuas e carros de mão, cartões de papel que cobrem as pedras da calçada. Está escuro e abafado.
Não demorou até chegar ao hotel, guardado por um homem alto e magro, vestido de preto, bigode farfalhudo maior que o rosto. Sento-me no sofá, sempre com o cara de bandido a acompanhar-me, sorriso amarelo e olhar posto em permanência na tentativa de me sacar dinheiro. Diz que os colegas que estão na recepção comentam que eu devo ser israelita:
“É que eles são muito amigos dos indianos”, explica, falsamente cativante. O empregado, tratado com desdém pelo que diz ser patrão, traz-me um
chai, chá com leite com uma quantidade inacreditável de açúcar, o outro a insistir na transacção da droga, eu que já lhe havia dito que não, ele a repisar, negociante, chato.
Na rua a madrugada, o cenário decrépito. Respiro o colapso de Bombaim, percebo que a proeminência local foi coisa do passado, aquando capital económica e maior mercado da Índia. Na penumbra, aproxima-se um idoso, ar sábio pelos óculos redondos, longas vestes sujas e barba branca. Pela primeira vez ouço a inevitável questão repetida até à minha exaustão, agora leve, curiosa: “Where come from?” Depois, parcas palavras para pedir dinheiro.
Entra um homem no hotel, camisa às listas aprumadas, bigode, cabelo cortado à escovinha. Arrota insistentemente enquanto fala, senta-se ao meu lado sem me dirigir palavra. Parece-me debilitado e doente. Recordo-me que por aqui a malária ataca, violenta, que o surto da doença está a provocar complicações ao nível do cérebro, rins e pulmões. A ameaça está a tomar proporções gigantescas. Nos subúrbios da cidade morrem famílias inteiras.
O negociante volta a atacar a presa, uma mão em cima da mesa, outra pousada nos quadris com a palma enrugada. Arrota quatro vezes
consecutivas e, para acalmar a dor de cabeça do colega dá-lhe uns incisivos golpes na testa com a ponta dos dedos.
O homem alto, de bigode maior que a face, abre a porta a um jovem com tiques femininos, sorriso matreiro nos lábios curvados. Chama-se Aditya, é bem-humorado e assumido: “Ser gay na Índia é algo de muito complexo. Os indianos não são tolerantes e eu nunca fui aceite pela sociedade por causa das minhas tendências sexuais. Mesmo no meu círculo social ninguém – nem mesmo a minha família – me aceita. Ainda acredito que os gays e as lésbicas vão transformar o século XXI na mesma escala em que Einstein mudou o XX. Devido ao nosso activismo, as categorias humanas não são mais masculino, feminino, neutro. Queremos direitos iguais e pretendemos mudar a nossa classificação. Não podemos continuar a ser marginalizados”, diz-me, panfletário, sem que lhe tenha perguntado nada.
Ao seu lado, Ismael dos arrotos conta que é casado e tem dois filhos mas, “tal como a maioria dos indianos, tenho algumas amantes, casadas, que estão sempre disponíveis para fazer amor comigo. Tu mesmo tens quantas quiseres. E não precisas de usar preservativo. Quando se acaba a relação lava-se o pénis com a própria urina. É assim que se desinfecta. Aliás, a urina é um bom remédio para muitas doenças. Se tiveres uma contusão ou um hematoma bebes a primeira mijada da manhã e ficas bom num ápice”. Reafirma que experimentou “várias vezes” e garante a eficácia da receita. Parece-me que estou a ouvir Marlon Brando no papel de Coronel Kurt em
Apocalipse Now: “o inferno é bom para ti desde que consigas sobreviver por lá”.
A dois passos do paraíso
José Manuel Simões

Naquela manhã de
1 de Janeiro de 1994 acordei com uma
irresistível vontade de partir. Estava em
casa de um amigo médico em Olinda,
Pernambuco, Brasil, a passagem de ano havia
sido fantástica mas algo me dizia que tinha
que ir embora. Deixei um bilhete ao meu
amigo a dizer “vou ao Deus dará” e apanhei
um autocarro até João Pessoa, na Paraíba,
onde, devido à data festiva, não encontrei
lugar para pernoitar. Nisto, vejo no mapa da
região o nome Baía da Traição, recordando-me
de uma aldeia indígena ali perto por onde
tinha passado meia dúzia de anos antes, com
direito a umas fotos rápidas e medo de que
os índios fossem hostis. Foi para lá que
fui.
Na manhã seguinte, depois de ter
constatado que os donos da pousada tinham
sido assaltados, parto à redescoberta dessa
tribo do Nordeste brasileiro. A pé, pela
praia fora, sem mais ninguém, cheguei a um
lugar em que a falésia se rompia em vários
caminhos, tomei uns banhos de mar e subi. Do
cimo do morro vejo aproximar-se um ultraleve
demasiado baixo, aparentemente desgovernado,
a menos de 100 metros de mim é empurrado
pelo vento e despenha-se. “Ó meu Deus, o que
é que aconteceu”, pensei, em pânico. “Não há
nada que eu possa fazer. O melhor é ir pedir
socorro, tentar arranjar um transporte que
os conduza a um hospital”. Deixei a mochila
e os chinelos e, com os pés a ferver na
terra quente corri até à aldeia onde
encontrei um grupo de índios que não
entendiam a minha língua e aflição e a todas
as minhas palavras respondiam com um sonoro
“é” acompanhado de sorrisos. Em desespero,
enxergo um índio a cavalo, peço-lhe com
firmeza que vá até à Baía da Traição chamar
um carro para socorrer os sinistrados,
finalmente consegui fazer passar a mensagem.
Enquanto o cavalo galopava toda a aldeia se
dirigiu para o local do acidente.
Encontrámos dois homens que definhavam a
olhos vistos, um com fraturas expostas,
sangue a jorrar, o outro com uma cabeça três
vezes maior que o normal. Aparentemente
salvos da agonia e da morte lenta, vejo-os
partir num táxi enquanto me afastava a
chorar com o peso das emoções. Já fora da
tribo chegaram uns fulanos junto a mim,
“amigo, vamos comemorar”, comemorar o quê,
“foi um milagre estar ali naquela hora. Você
salvou nossos colegas”.
No dia seguinte
voltei à Aldeia Galego dos índios potyguara
e fui recebido como herói, voltando quase
todos os anos àquele lugar, um dos mais
bonitos do Mundo. Tinham passado oito anos
desde o insólito acontecimento da queda do
ultraleve e, concluído que tinha o mestrado
em comunicação e jornalismo, decido ir fazer
a minha tese de doutoramento em
etnomusicologia sobre os ritmos dos
potyguara, acabando por casar na aldeia com
uma descendente de índios e fazer a casa
precisamente no local onde o avião caiu.
Mais recentemente fui conduzir uma
reportagem jornalística para a televisão
sobre esta reserva indígena que é um dos
últimos paraísos de homem e, para dar
credibilidade ao trabalho, fui procurar os
acidentados do ultraleve. Ao contrário do
que se dizia na aldeia, estavam ambos vivos.
Um deles, em lágrimas, agradeceu, a Deus e a
mim, por estar ali naquele momento,
enfatizando que me devia a vida. Na
reportagem, retratámos essa história em
paralelo a um modus vivendi que mantém
traços que remontam a séculos antes da
chegada do colonizador, com os seus pagés,
feiticeiros, caciques, curandeiros e todo um
território reserva e património natural da
humanidade que abriga espécies em vias de
extinção, dando a conhecer a Portugal índios
que dançam em círculo e rezam aos deuses da
natureza em comoventes preces numa língua
secular, o velho tupi. Deus, ou Tupã, como
eles enfatizam em olhos elevados aos céus,
parece ter-lhes respondido à vontade de se
agarrarem às raízes de uma terra que deve
ser sagrada. Uma terra que se não é o
paraíso está a menos de dois passos dele.
Tremores
José Manuel Simões

No próximo dia 10 de Setembro vai fazer 18 anos que estava em Nova Iorque, hospedado no Roosevelt Hotel, a centenas de metros de onde horas depois aconteceria a tragédia. No fim da tarde desse mesmo dia, eu, o Luís Figueiredo Silva, então no Correio da Manhã, e o Alexandre, do Expresso, íamos para entrar no elevador de uma das torres para vermos a metrópole lá de cima e, já com o bilhete nas mãos, visivelmente arrepiado, vocifero: "desculpem, mas eu não vou. Estou a sentir-me mal, uma má vibração horrível, espero-vos aqui em baixo". "Então camarada Zé, o que é que se passa?", questiona-me o Figueiredo Silva enquanto por debaixo das mangas da camisa lhes revelo a pele de galinha, o suor frio a começar a escorrer-me pelo rosto. "Se tu não vais nós também não vamos". Como não os consegui demover sugeri que apanhássemos o metro até ao outro lado do rio Hudson com o objectivo de tirarmos umas fotografias com as torres ao fundo. Garante-me o Luís que guarda religiosamente essa imagem onde por baixo de nós três e das torres está inscrito: 10 de Setembro de 2001. Obviamente que não vislumbrei a tragédia que se iria seguir, mas posso garantir-vos que passei o dia inteiro com um intenso temor de que algo de muito grave estava para acontecer. Nessa manhã de 10 do 9, antes de entrevistar os Incubus — razão pela qual estávamos em Nova Yorque — passeei pela China Town e, por entre o frenesim da metrópole, sirenes de ambulâncias, mendigos a dormir no chão e chineses reafoitos, parei um minuto e disse para mim mesmo: “esta cidade está à beira de um colapso”. Mais à frente entrei numa loja de roupa usada e - fico hoje pasmado com o tamanho da coincidência - comprei um casaco dos bombeiros locais, azul e com uma fita amarela florescente na manga, que nunca usei e acabei por dar ao Igor Gandra, director do Teatro Ferro do Porto, talvez ele o fosse usar numa das suas performances. Ao início da noite, no hotel onde estava hospedado – e isto não é certamente coincidência - o sistema informático avariou, deixando os recepcionistas à beira de um ataque de nervos. Paga a fatura de valor aproximado, a caminho do aeroporto John F Kennedy, rebentou uma trovoada impressionante, horas seguidas de relâmpagos, chuvas torrenciais. Ainda entrámos no avião mas demorámos umas cinco horas a descolar. Li os jornais de ponta a ponta e às tantas, nos resultados e classificações da Regional de Coimbra, minha cidade natal, lia-se: Ala Arriba 0 - Febres 3. Repeti alto e o avião irrompeu numa ansiosa gargalhada geral. Ao anúncio de partida, comecei a bater palmas no que sou seguido pelos passageiros. Quando chegámos a Portugal a tragédia já tinha acontecido. Liga-me o Luís horas depois: "Tudo isto me parece um sonho. Ainda ontem estavámos para entrar lá, tu todo arrepiado, nervoso, a suar. Como é possível teres sentido esta desgraça?”
H