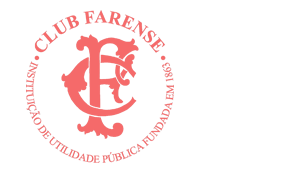Insólita Viagem
José Manuel Simões
Filosofia de comboio
- Partilhar 29/09/2021
As últimas
réstias de sol tentam romper por entre as
frestas da imunda janela do comboio, lá fora
as árvores raras, o coração vazio da
Índia, as palavras dos meus companheiros de
improvável viagem coladas em desalinho
aprumado, saltando das caraterísticas
geográficas para a economia, da cultura
para a política. “A primeira-ministra
Rajive Gandhi foi assassinada por movimentos
extremistas que não aprovaram a sua
decisão de enviar tropas indianas para o
Sri Lanka. É preciso não confundir Rajive
com Indira Gandhi, aquele morto pelos
sikhs,
gente que se cobre da cabeça aos pés, que
possui a sua religião própria e os seus
templos em toda a Índia”, conta,
pausadamente, Sitaram. Joginder completa: “A
Índia é muito difícil de entender. É
quase um sub-continente, com castas e
religiões antagónicas. Nem nós mesmos nos
conhecemos”. Recordo-me de um poema de
Poliana Oliveria: “Hoje acordei com vontade
de ser mais eu, de me olhar no espelho e
falar que eu quero, eu posso e consigo. Que
sou muito além do que imagino; que posso
surpreender-me comigo mesma, e que a minha
felicidade não depende de ninguém além de
mim...” M.Ahmled – leio-lhe o nome do lado
esquerdo de uma blusa verde escura - vem à
carruagem perguntar o que queremos comer. As
opções são escassas: sopa de tomate,
chapati, arroz branco cozido com carne e
legumes e frango de caril.
Sitaram é
bancário. Comunica com Joginder em inglês,
“a língua que une o nosso povo”. Sitaram
fala tamil, Joginder punjab da
zona de Punjabi, línguas que não se cruzam
nem se compreendem. Oficialmente falam-se 14
idiomas em toda a Índia. Na prática
existem centenas. Inúmeros dialetos numa
mesma região. Tão diversos como este país
de castas e gente tão estranha, capaz de
provocar no forasteiro os sentimentos mais
antagónicos. Uma das mordomias de viajar em
2a classe a.c – com ar condicionado – é ter
direito a um lugar num compartimento com
quatro camas. O revisor confirma o bilhete e
distribui um pacote de papel contendo dois
lençóis, um cobertor com a inscrição
Central Railway e uma pequena toalha de
rosto que entrega juntamente com uma
almofada. Caiu a noite. O comboio continua a
sua marcha sem que se saiba bem em que
direção segue. Lá fora escuro breu da cor
da minha t-shirt, calções e
chinelos. Será que a “Briosa”, equipa onde
o meu avô Francisco Meireles, formado em
medicina e a pessoa que mais influenciou a
minha carreira profissional, jogou e nos
ensinou a gostar, ainda está a lutar para
subir de divisão?
Fecho os olhos.
Bato com os dedos no gémeo esquerdo como se
tocasse as teclas de um piano. Sei que
existe por aqui um pacto de não-violência
e de respeito por todas as formas de vida
animal e que muitas divindades são
associadas a animais: Vishnu ao leão, Shiva
ao touro, e Ganesh a meio homem meio
elefante a quem se reza antes de um
compromisso importante. É ele que remove os
obstáculos do caminho, que nos protege do
mal, que nos alivia o karma. Em
Bombaim vi uma escultura de Ganesh
olhando-me intrigado, observando os meus
movimentos com uma expressão de
curiosidade. Uma vaca passa indiferente pelo
meio da estrada, as motas desviam-se para
não lhe tocarem, lembro-me que as vacas
são sagradas desde que impediram a sua
matança em tempo de seca e fome.
Chega a comida,
oleosa, cheia de condimentos, intragável,
servida num prato de latão. Não vou
conseguir comer. Quem me dera estar agora no
Hytt Regency de Bombaim onde fiquei com os
meus pais da outra vez que andei por aqui.
Certa manhã ofertaram-nos um sublime
pequeno-almoço com longas taças de prata
repletas de um espumoso lassi, bebida
feita de iogurte com água, sal e
esperiarias com sabor de baunilha. Que
delícia. Tão delicioso como um doce
indiano frito, em forma de espiral, embebido
em melaço. Nunca me esqueci do nome:
jalebis. Ui. Esta sopa tem uma cor
estranhíssima, vermelho florescente. É,
como toda a comida indiana, condimentada e
agressiva. No entanto, convenhamos, está de
acordo com o clima e com as condições de
higiene locais. O picante mata os vermes.
Joginder discorre
agora sobre o corpo humano. Considera o
fígado um dos órgãos mais importantes e
dá uma receita feita à base de frutas
diversas para o limpar. Infelizmente, não
conheço a maioria dos frutos mencionados,
nem me parece que a maior parte exista na
Europa. “A medicina tradicional indiana,
feita à base de frutos e plantas, é
simples, mas muito eficaz. Por meras 10
rupias qualquer pessoa cura uma doença.
Aliás, a eficácia da cura pelas plantas
remonta ao tempo de um português, Garcia da
Horta, que em 1534 embarcou para a Índia
como físico do futuro governador Martim
Afonso de Sousa e, em Goa, iniciou a obra
Colóquio dos Simples e Drogas e Cousas
Medicinais da Índia ao mesmo tempo que
exercia medicina numa clínica privada.
Parece que usava a abelmosco para cólicas
intestinais, biliares ou renais, sistema
nervoso e espasmos uterinos e a beringela
para combater a obesidade e as doenças do
fígado. Foi também esse seu compatriota
que primeiro descobriu o algodoeiro e as
propriedades terapêuticas do amendoim, que
para além de fornecer vitaminas possui um
óleo que serve de veículo medicamentoso.
Segundo rezam as crónicas sobre esse livro
indo-português que não teve grande
circulação e quase desapareceu, deve-se a
este médico um dos mais relevantes estudos
sobre o nome, a origem, o uso e a
utilização pelos médicos e físicos
indianos das plantas medicinais oriundas do
nosso país.”
A conversa corre
mais solta do que o comboio, lento, salta de
cidade em cidade, passa por Bombaim, “terra
de sete rios, uma quase ilha cheia de
detritos”, vai até às mais-valias do Sul,
“mais culto e mais civilizado. Lá, as
pessoas são unidas, a educação é maior.”
Sitaram abana a
cabeça para cima e para baixo e não em
ondulações para o lado, como a maioria dos
indianos. “Porque sou do Norte e no Norte a
linguagem gestual é mais próxima da da
Europa. Não tão excessiva, contudo, quanto
a dos latinos”.
Faz pelo menos
uma hora que o comboio está parado nesta
estação. Venho à janela, mas não consigo
ver o nome. Sitaram vai abrindo o livro dos
seus conhecimentos. Lá fora um pobre bebe
arrack, o chamado “licor do
interior”, bebida dos mais desfavorecidos,
feita à base de um líquido extraído dos
coqueiros e depois destilada. A mais
consumida tem um sabor a rum e é fabricada
localmente de forma artesanal. A maioria,
todavia, toma chá com leite e certamente
demasiado açúcar. De uma outra cabine, um
rádio mal sintonizado soa uma música de
Mehdi Hassan, ligeira, poética, de nome
ghazal. Os poemas são recitados com
alma e acompanhados por uma melodiosa
cítara. Gosto desta magia, da atmosfera
cinematográfica, do astral pacientemente
envolvente.
- n.29 • outubro 2021