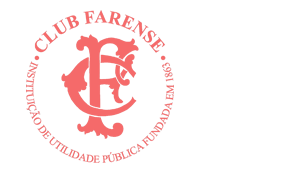Espelho Cinemático
Daniela Graça
Farta de Mim Mesma | Renfield | Emily | Os Espíritos de Inisherin | Os Olhos de Allan Poe | O Menu | Alma Viva | Blonde | Nope | Não Está Tudo Bem | Elvis: O Retorno do Rei | Top Gun: Maverick | Northman | Competição Oficial | A Vida Extraordinária de Louis Wain | A Mão de Deus | Spencer | Dune | Noite na Terra | Bem Bom | O Homem Que Vendeu a Sua Pele | O Pai | Sound of Metal | Se Esta Rua Falasse | Hiroshima, Meu Amor | Pieces of a Woman | Soul – Uma Aventura com Alma | Mank | On the Rocks |
Os Espíritos de Inisherin (2022)
- Partilhar 09/02/2023

O
realizador e argumentista Martin McDonagh
regressa ao grande ecrã com uma nova
tragicomédia e, desta vez, transporta-nos
até uma ilha remota na costa da Irlanda
durante a guerra civil dos anos 20. O filme
estreou nas salas de cinema portuguesas a 2
de fevereiro.
Os Espíritos de
Inisherin (título original: The
Banshees of Inisherin) é protagonizado
por Collin Farrell e Brendan Gleeson, a
mesma dupla de atores que protagonizou Em
Bruges (2008), também da autoria de
McDonagh. Os Espíritos de Inisherin
recebeu 9 nomeações para a 95ª edição dos
Óscares que decorrerá a 13 de março,
incluindo Melhor Filme, Melhor Realização,
Melhor Argumento Original; sendo que Collin
Farrell foi nomeado a Melhor Ator Principal;
Brendan Gleeson e Barry Keoghan foram ambos
nomeados a Melhor Ator Secundário e Kerry
Condon foi nomeada a Melhor Atriz
Secundária.
Inisherin é uma ilha
pacata onde álcool, música, catolicismo e
bisbilhotice são os únicos passatempos para
entreter os poucos habitantes que lá vivem.
Apesar dos sons dos canhões serem
transportados através da água, os habitantes
de Inisherin pouco ou nada se interessam
pela guerra civil. Tanto lhes faz qual lado
ganhe porque, afinal de contas, nem sabem
que lado é que começou a guerra ou porque
lutam sequer já. É apenas som de fundo para
a sua vida simples e calma. Mas, de repente
e sem qualquer aviso, um conflito surge em
Inisherin quando o velho músico Colm
(Brendan Gleeson) termina a amizade com o
simplório pastor Pádraic (Collin Farrell)
sem qualquer razão aparente, justificando-se
apenas com “simplesmente já não gosto de
ti”. Esta desavença é um conflito que os
habitantes de Inisherin não conseguem
ignorar e a notícia rapidamente corre todos
os cantos da pequena ilha.
Tal como o
taberneiro do único pub da ilha
aponta: a amizade de Colm e Pádraic nunca
fez muito sentido uma vez que são o completo
oposto um do outro. Pádraic é um homem
simples e feliz, que ama os seus pequenos
animais e consegue passar horas a fio a
falar sobre assuntos sem qualquer
substância. Colm, por sua vez, é reservado,
cínico e um intelectual preocupado com
pautas de música e com o legado que irá
deixar depois de morrer. Pádraic fica
destroçado com a decisão abrupta de Colm e
não entende o porquê. Mesmo depois de Colm
explicar que considera Pádraic um homem
aborrecido e que conversar com ele é um
desperdício de tempo, Pádraic continua a não
aceitar o fim da amizade. Colm responde a
esta persistência com um ultimato e promete
que se Pádraic voltar a falar com ele mais
uma vez, cortará um dos seus próprios dedos.
Entretanto, Pádraic ampara-se nas
conversas com a irmã Sióbhan (Kerry Condon),
uma leitora ávida, inteligente e empática; e
com o pacóvio inocente da aldeia, o jovem
Dominic (Barry Keoghan), que é regularmente
agredido pelo pai (o único polícia em toda a
ilha); enquanto continua a tentar resolver o
dilema com Colm e reanimar a amizade. Porém,
a situação escala até ao ponto de se tornar
irreparável.
Colm usar automutilação
como ameaça é uma medida extremista e
completamente absurda que só um homem
profundamente corroído pelo desespero seria
capaz de levar a cabo. E é também uma medida
tipicamente à Martin McDonagh. O mestre
moderno da comédia negra tem um toque
sublime para criar violência absurda que
nasce do vazio existencial, crises de
espírito e medo do esquecimento das
personagens. Espíritos de Inisherin é
um filme terrivelmente engraçado com o
diálogo cortante e inconfundível de Martin
McDonagh que explora a solidão, a depressão
e a mortalidade.
Mas toda esta
negatividade existente no filme não funciona
por si só, é em contratempo com a beleza da
ilha e com a bondade de personagens como
Shióban, que escolhem não serem levadas pela
corrente de ódio, que a história se eleva e
solidifica. Os Espíritos de Inisherin
mostra como a amargura só gera mais rancor e
como até a pessoa mais simpática, ou mais
simples, pode ser corroída pela dor. É uma
história que nos leva a questionar o porquê
de o legado ser tão importante e o porquê
dos simples prazeres da vida serem tão
desvalorizados face à nossa mortalidade,
quando o completo oposto é que deveria
acontecer. Cada personagem tem o seu próprio
mundo interior complexo que influencia como
existem no mundo exterior e todos os atores
do elenco principal desempenham performances
formidáveis, demonstrando um tato sensível e
pendor melancólico, que os tornam
inesquecíveis.
Os Espíritos de
Inisherin é quase como uma folk tale
irlandesa com paisagens verdes
pitorescas, povoadas por variados animais
domesticados, capturadas idilicamente pelo
diretor de fotografia Ben Davis. A música
folk, a presença constante de símbolos
católicos, o simbolismo tirado
de velhas lendas (uma das personagens
assemelha-se ao ceifador, a personificação
da morte, por exemplo) e as
idiossincrasias culturais de um pequeno
povoado rural irlandês só reforçam essa
mesma qualidade de folk tale. Por
outro lado, a alegoria à guerra civil
através do conflito de Colm e Pádraic é
clara, mas não se torna o objetivo do filme,
uma vez que foco mantém-se naturalmente na
inimizade entre os dois.
Com Os
Espíritos de Inisherin, Martin
McDonagh volta a comprovar que é um dos
grandes autores modernos. Atualmente, não há
falta de realizadores talentosos, mas
argumentistas excelentes são muito mais
raros. E é esta a qualidade de Martin
McDonagh que torna os seus filmes tão
especiais e únicos.
Classificação: ★★★★★
Os Olhos de Allan Poe (2023)
- Partilhar 10/01/2023

O thriller
Os Olhos de Allan Poe (título original:
The Pale Blue Eye), protagonizado por
Christian Bale, é a produção original mais
recente da Netflix. O filme dirigido e
escrito por Scott Cooper, baseado no livro
homónimo de Louis Bayard publicado em 2006,
estreou a 6 de janeiro na plataforma de
streaming.
O enredo do mistério
decorre durante o inverno ríspido de 1830 na
base militar de West Point no estado de Nova
Iorque. O detetive Augustus Landor
(Christian Bale) é discretamente contratado
pela Academia Militar dos Estados Unidos
para investigar a morte de um cadete que foi
encontrado enforcado numa árvore. O caso
complica-se quando é revelado que alguém
mutilou o cadáver e removeu o coração.
Landor é um detetive competente e com
muita experiência, que se afastou da
profissão e da sociedade por escolha
própria, mas que encontra agora obstáculos
na investigação devido à rigidez da
mentalidade militar. O ambiente social da
Academia é tão agreste e frio quanto o clima
ambiental que os rodeia. Os cadetes, regidos
pelo código de silêncio e pela cultura de
punição, não falam abertamente e os
oficiais, por sua vez, são obcecados com
estatuto e apenas desejam uma resposta
rápida e clara que não afete o prestígio da
Academia Militar.
Porém, Landor
encontra o aliado mais invulgar para o
ajudar na investigação: um jovem cadete
muito inteligente, estranho e sensível,
chamado Edgar Allan Poe. Sim, o famoso
escritor e poeta americano, o pioneiro do
género literário de histórias de detetive, é
quem ajuda o nosso protagonista. É verdade
que o autor se alistou no exército por
razões económicas e esteve destacado em West
Point, mas os factos verídicos acabam por aí
porque, afinal de contas, este é um conto
ficcional e o que interessa é o espírito de
Poe. O nosso Poe ficcional, representado
pelo ator Harry Melling, vê a vertente
poética e simbólica da carnificaria cometida
- “O coração é um símbolo ou não é nada.
Retire o símbolo e o que tem? É uma
mão-cheia de músculo sem mais interesse
estético que uma bexiga” explica a Landor.
Os dois homens desenvolvem uma afinidade
emocional. Talvez este laço nasça do
respeito intelectual mútuo; talvez seja por
ambos serem forasteiros reclusos que não se
enquadram ou, talvez ainda, por ambos serem
assombrados por pessoais reais – Poe pela
mãe falecida, Landor pela filha desaparecida
– ou talvez por todas estas semelhanças e
tantas outras.
Entretanto, o caos
multiplica-se quando o assassino volta a
atacar e vitimiza outro cadete usando o
mesmo método. Landor apoia-se na introspeção
de Poe e continua a investigação destes
homicídios aparentemente satanistas. O
elenco do filme inclui ainda Gillian
Anderson, Toby Jones, Lucy Boynton e Harry
Lawtey que formam a peculiar família Marquis
que Landor investigará; Charlotte Gainsbourg
como a proprietária de uma taberna e Robert
Duvall como um perito em questões do oculto.
Com 2 horas e 10 minutos de duração o
filme demora-se na ação primária que serve
apenas de embuste, de uma forma algo
esperada e desinteressante, para a
reviravolta final. Os Olhos de Allan Poe
é um filme com um meio moroso enquadrado por
um início e final magnéticos. Porém, tanto
Christian Bale e Harry Melling maravilham
nos respetivos papéis.
A vasta
natureza paisagística coberta de neve; as
árvores grandes e rios gelados; e os fortes
e tabernas pontilhados pelo azul-escuro do
uniforme dos militares adequam-se
harmoniosamente ao tom desta história. Os
Olhos de Allan Poe é uma história em que
os vivos são assombrados pelos mortos. É
funesto, gélido e sombrio, mas também é
romântico e empático. É um filme que revela
ser mais do que um filme de mistério ao
invocar temáticas de vingança e de expiação.
Os Olhos de Allan Poe é um ótimo
filme para passar um bom serão durante os
dias mais frios do inverno.
Classificação: ★★★
O Menu (2022)
- Partilhar 06/12/2022

O
Menu é a adição mais
recente ao crescente número de sátiras sobre
o capitalismo moderno e, desta vez, a
alegoria transporta-nos para o mundo dos
aficionados de restaurantes gourmet.
O filme, que conta com realização de Mark
Mylod e argumento de Seth Reiss e Will
Tracy, chegou às salas de cinemas
portuguesas a 1 de dezembro.
As
diferenças económicas entre as classes
sociais foram sempre um assunto predileto
para cineastas. Porém, nestes últimos anos,
e especialmente após Parasitas (2019)
de Bong Jong-Hoo ter conquistado vários
Óscares em 2020, tornou-se claro que o
público tem cada vez mais apetite por filmes
dentro dos géneros de thriller e humor negro
que satirizem o capitalismo, como por
exemplo, O Ritual (2019), Não
Olhem Para Cima (2021) e, mais
recentemente, O Triângulo da Tristeza
(2022).
Em O Menu, o casal
Tyler (Nicholas Hoult) e Margot (Anya
Taylor-Joy) viajam até uma ilha privada para
jantar no Hawthorne, um restaurante
superexclusivo destinado apenas aos mais
ricos que têm o luxo de poder gastar 1250
dólares numa única refeição, e saborear a
ementa do talentoso chef Slowik
(Ralph Fiennes). A ementa de Hawthorne é
diferente todas as noites e é planeada até
ao mais pequeno detalhe com toda a
dedicação. O restaurante tem uma lotação
limitada de 12 pessoas e conseguir um lugar
é um motivo de orgulho.
Os restantes
convidados que acompanham o jovem casal são
uma crítica gastronómica elitista (Janet
McTeer) e o seu editor (Paul Adelstein); um
trio de amigos que trabalham numa grande
empresa tecnológica (Rob Yang, Arturo Castro
e Mark St. Cyr); um casal de idosos
milionários (Reed Birney e Judith Light); um
ator outrora famoso (John Leguizamo) e a sua
assistente/namorada (Aimee Carrero). Por
fim, e de forma a totalizar os 12
convidados, temos uma idosa (Rebecca Koon)
sozinha numa mesa ao canto que, mais tarde,
é revelada ser a mãe de Slowik. Os
convidados são guiados pela chefe de mesa
(Hong Chau) para o que promete ser uma noite
inesquecível.
A atitude calculista,
assertiva e calma com que o chef
Slowik conduz a sua equipa e restaurante
maravilha Tyler, um autoproclamado perito
gastronómico, mas Margot não está
minimamente impressionada ou interessada
pelos pratos extremamente elaborados. A
verdade é que Margot foi convidada à última
hora por Tyler depois da sua parceira o
deixar. Margot é como um peixe fora de água,
simplesmente não se enquadra com o perfil
social dos outros convidados, e o chef
Slowik repara nela de imediato, não só
porque não tem aprecio pelo requinte da sua
arte, mas porque ela não fazia parte do
plano de ementa meticulosamente aperfeiçoado
com cada convidado em mente. “Não devia
estar aqui”, confessa o chef à jovem
que fica cada vez mais desconfortável.
A teatralidade do menu de Slowik passa
rapidamente de um tom intrigante para
sombrio quando os pratos revelam ser
mensagens insultuosas e acusatórias para
cada convidado. Confusão instala-se e ânimos
exaltam-se. E eis a revelação do chef,
que assume agora a função de juiz e carrasco
orgulhosamente, e explica como este menu tão
especial, desde as ementas à sobremesa, é um
longo plano de vingança e que todos os
convidados irão morrer porque representam
tudo o que está errado com a atual cultura
gastronómica. Ricos que pagam não para
saborear as ementas criadas com tanto
esforço todas as noites, mas sim porque é
uma prova de estatuto para eles. O
pretensiosismo, elitismo, desinteresse,
desrespeito e ego desta classe de pessoas
corroeram a paixão de Slowik e isso é um
crime imperdoável.
A famosa
expressão “a vingança é um prato que se
serve frio” não se aplica a um chef,
a ira de Slowik não consegue ser contida num
só prato, é preciso um menu inteiro. É um
jogo de opressores versus oprimidos,
ricos versus pobres, os que servem
versus os que são servidos. E Margot tem
agora de escolher e agir corretamente para
sobreviver.
A desconexão da realidade
e pretensiosidade destes convidados gera
trocas de diálogo engraçadas que são o ponto
alto do guião e se adequam na perfeição ao
tom de humor do filme. Mas falta subtileza
ao argumento, as motivações são óbvias e as
críticas básicas, ou seja, depois da camada
superficial não há muito mais nada de
substância. E apesar de umas quantas
reviravoltas interessantes, estas surpresas
acabam por se tornar algo entediantes porque
o chef aparenta ter sempre o controlo
da situação. Inicialmente, o filme lembra um
pouco os contos de Agatha Christie ao ter
vários desconhecidos presos no mesmo sítio
sob perigo mortal, mas ao contrário dessas
histórias em O Menu a maioria das
personagens são esquecidas com o decorrer do
filme e passam para segundo plano. Anya
Taylor-Joy e Ralph Fiennes detêm o foco e os
seus performances são o aspeto mais forte e
memorável do filme.
Se o filme O
Menu fosse uma refeição seria uma
refeição decente, mas que não sacia a fome.
Classificação: ★★★
Alma Viva (2022)
- Partilhar 12/11/2022

Alma Viva
é a primeira longa-metragem da cineasta
luso-francesa Cristèle Alves Meira, autora
das curtas Sol Branco (2015),
Campo de Víboras (2016) e Invisível
Herói (2019). O filme foi apresentado
pela primeira vez em maio na 75ª edição do
Festival de Cannes e em setembro foi
selecionado pela Academia Portuguesa de
Cinema como candidato português aos Óscares
2023. Alma Viva, produzido pela
Midas Filmes em coprodução com França e
Bélgica, chegou às salas portuguesas no
passado dia 3 de novembro.
Alma
Viva é uma história fictícia marcada por
realismo mágico, mas baseada nas
experiências reais da autora. Todos os
verões, a nossa protagonista e guia, a
pequena Salomé (Lua Michel), filha de
emigrantes portugueses em França, visita a
terra natal da mãe em Trás-os-Montes. Salomé
conhece todos os cantos da casa e sabe todos
os caminhos da aldeia e dos montes que a
rodeiam. Ela acompanha as rezas e canções
que a avó (Éster Catalão) lhe ensina com
toda a naturalidade e certidão - uma prova
incontestável do laço emocional e espiritual
que a une à matriarca da família,
considerada uma bruxa por muitos dos
aldeões. Mas depois da avó morrer
inesperadamente durante a noite, Salomé
convence-se que foi possuída pelo espírito
dela.
O corpo da velha senhora ainda
está por enterrar e os seus filhos, os
adultos da família, criam o caos ao
discutirem incessantemente sobre dinheiro.
As diferenças monetárias e os rancores
individuais entre os filhos que emigraram e
os que ficaram em Portugal tornam-se óbvias.
Entretanto, Salomé deambula pela aldeia de
noite, possuída pelo espírito da avó, e
procura vingar-se da vizinha que acredita
ser a culpada pela morte da avó. A menina
sucede e fere a vizinha, mas a força
espiritual que comanda o corpo de Salomé
continua inquieta. Rapidamente o
comportamento anormal de Salomé é descoberto
pelos habitantes da aldeia, que ficam
convencidos que “a garota tem o Diabo no
corpo”, e confrontam a família de Salomé, a
família das bruxas.
Em Alma Viva
os espíritos são reais porque as pessoas
acreditam; os mitos e rituais fazem parte do
legado vivo comunitário desta pequena
aldeia. As preces e cânticos à luz das
celas; os chás de ervas; São Jorge, o santo
guerreiro; as máscaras e as festas; as
tradições antigas… Tudo isto torna o surreal
em algo palpável, e é pelos olhos de Salomé,
uma criança que confronta pela primeira vez
a morte de alguém que ama, que o realismo
mágico ganha forma e respira.
Alma Viva é um filme profundamente
autêntico que explora o ruralismo, o
espiritualismo, o núcleo familiar, a questão
da emigração e o papel das mulheres que se
rebelam em comunidades tradicionais, “mais
tarde ou mais cedo, todas as mulheres
independentes serão acusadas de bruxaria”. O
filme foi rodado em Junqueira, a aldeia da
mãe de Cristèle Alves Meira, e o elenco é
composto por atores profissionais e
não-atores da região, incluindo a atriz Lua
Michel, filha de Cristèle. A receita da
cineasta, em que a fantasia e o real
convergem e dialogam até alcançarem um
equilíbrio, resulta em cenas incrivelmente
familiares e tangíveis que a maioria da
audiência certamente reconhecerá. Um filme
extremamente rico em cultura e simbolismo no
qual o humor e a tragédia coexistem em
simultâneo.
Classificação: ★★★★
Blonde (2022)
- Partilhar 06/10/2022

O realizador australiano Andrew Dominik,
conhecido pelo filme
biográfico O Assassinato de Jesse James
(2007), regressa ao oratório popular com
Blonde, o filme sobre Marilyn Monroe,
que veio estilhaçar a vénus loira de
Hollywood. Mas Blonde não é uma
biografia, trata-se sim de uma adaptação do
romance homólogo da escritora Joyce Carol
Oates publicado em 2001, uma história de
ficção baseada na vida de uma pessoa real
que se prolonga durante 700 páginas.
Andrew Dominik encontrou a sua Monroe na
atriz colombiana Ana de Armas, que graças à
magia da maquilhagem, guarda-roupa e ângulos
e lentes escolhidos a dedo assemelha-se
fisicamente à blonde bombshell
americana com toda a naturalidade.
Blonde, classificado para maiores de 18
anos, teve como palco de estreia o
Festival de Veneza e dias mais tarde, a 28
de setembro, chegou a casa de todos os
assinantes do serviço de streaming Netflix.
Com quase três horas de duração o
filme pouco ou nada nos diz sobre a
verdadeira Marilyn Monroe. Blonde
foca-se maioritariamente na Marilyn já
famosa. Inclui uma breve parte introdutória
focada na infância turbulenta de Norma Jeane
(o verdadeiro nome de Marilyn Monroe)
traumatizada pela violência da mãe
mentalmente instável e pela ausência do pai,
o qual nunca chegou a conhecer, e que
termina com Norma Jeane a ser levada para um
orfanato após o internamento da mãe num
hospício. O período de adolescência no
orfanato e o início da carreira como modelo
são menosprezados e substituídos por uma
sequência rápida composta pelas diferentes
capas de revistas para as quais a jovem
posou. E passamos então para a Marilyn
adulta, de caracóis loiros oxigenados, a
capturar a atenção predatória de todos os
homens que a rodeiam.
Dominik
durante cerca de 2 horas e 40 minutos
dedica-se a criar um inferno cíclico abusivo
para a sua Marilyn, desde violações por
homens que detêm poder e estatuto, a
casamentos miseráveis, passando por
violência doméstica, abortos induzidos
contra a sua vontade e um aborto espontâneo.
Os relacionamentos românticos são motivados
por psicologia freudiana, uma temática
martelada incessantemente ao longo de todo o
filme ao ponto de se tornar psicologia
barata, com Marylin a procurar uma figura
paternal em todos os homens que ama numa
tentativa desesperada de preencher o vazio
deixado pelo pai que nunca conheceu. Esta é
a origem incontornável de toda a dor de
Marilyn que Blonde nunca nos permite
esquecer. E, entretanto, começa a afogar a
dor em comprimidos e álcool e rapidamente se
torna toxicodependente. Por outro lado, das
poucas vezes que a atriz mais famosa da
América trabalha em Blonde, seja a
fazer audições, a filmar ou a ver a estreia
do seu filme, encontra-se completamente
miserável e odeia-se profundamente.
Blonde é um filme fatalista. Torna-se
aparente ao longo do filme que Marilyn
Monroe é para Dominik apenas uma figura
trágica pela qual o realizador tem uma
obsessão mórbida. Quando o realizador é
questionado, numa entrevista para a revista
Sight and Sound [1], sobre o porquê de
não abordar as vitórias de Marilyn (criar a
sua empresa de produções fílmicas, lutar
contra a discriminação racial, etc) este
responde: “O filme não é sobre isso. É sobre
uma pessoa que se vai matar.”. Dominik reduz
Marilyn a uma tragédia em Blonde.
Blonde é uma fantasia cruel,
redutora e simplista na qual Marilyn é
retratada como uma boneca de porcelana que
se desfaz em cacos vez após vez durante
quase três horas. E todos os pontos fortes
do filme: os truques visuais surreais,
poéticos e tecnicamente impressionantes; a
qualidade do departamento de guarda-roupa e
maquiagem; e a semelhança física e o
performance emocionalmente carregado de Ana
de Armas (se bem que o sotaque estrangeiro
atraiçoou a semelhança à voz de Marilyn) não
conseguem atenuar os pontos fracos do filme.
Devido ao teor temático de Blonde,
e ao facto de ser tão facilmente acessível
agora que está no catálogo da Netlix, o
filme amassou muita atenção e várias
críticas foram apontadas: a objetificação
sexual desnecessária (Ana de Armas passa uma
parte bastante considerável do filme nua), o
retrato explorativo e de mau gosto de abusos
sexuais (especialmente numa cena com o
Presidente John F. Kennedy); a falta de
empatia; a factualidade dos acontecimentos,
etc. Mas, para mim, a falha mais gritante do
filme é a falta de interesse do realizador
pelo seu sujeito. Dominik está apenas
interessado na fração miserável de Marilyn e
não no seu total, e, portanto, ignora tudo o
resto. Blonde pode não ser um filme
biográfico tradicional, mas continua a ser
um filme sobre Marilyn Monroe, uma pessoa
real. Em vez de procurar encontrar a mulher
por trás do mito de Hollywood este filme
cria o seu próprio mito e escolhe ativamente
ignorar toda uma carreira, conquistas,
amizades, e todo o espectro emocional fora
da dor.
Blonde é um filme
fracionado e emocionalmente raso, que não
explora a complexidade do seu sujeito, e em
vez disso, fabrica uma Marilyn diluída e
dizimada. Se Blonde tivesse dedicado
metade do esforço que foi necessário para
recriar até ao mínimo detalhe fotografias de
Marilyn no que toca à escrita de uma Marilyn
que se assemelhasse à verdadeira, ou pelo
menos fosse uma personagem redonda, teríamos
uma noção mais sólida e multifacetada da
atriz.
É difícil dizer para quem
exatamente este filme foi feito para além do
Andrew Dominik. Mas certamente não foi feito
para um público que aprecie complexidade e
nuance emocional. E muito certamente não foi
feito para aqueles que querem conhecer a
mulher por detrás de Os Homens Preferem
as Loiras (1953), Quanto Mais Quente
(1959) e Os Inadaptados (1961).
Classificação: ★★
-
[1] Entrevista na revista Sight and Sound: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/interviews/im-not-interested-reality-im-interested-images-andrew-dominik-blonde
Nope (2022)
- Partilhar 05/09/2022

Jordan Peele,
o ator e comediante tornado realizador,
estabeleceu-se como uma das vozes mais
promissoras do género de terror com os
filmes Foge (2017) e Nós
(2019). Nope, a terceira
longa-metragem escrita e realizada por
Peele, volta a comprovar o engenho do
realizador para assustar e maravilhar a
audiência. A estreia do filme ocorreu a 18
de julho em Los Angeles e um mês mais tarde,
a 18 de agosto, chegou às salas de cinema
portuguesas, e revelou ser um dos melhores
filmes do verão, que muito tem dado de
falar, pelos seus mistérios e simbolismos. Nope
é um filme de puro terror que é parte
western, parte-ficção científica, no qual um
OVNI aterroriza os donos de um rancho de
cavalos na Califórnia.
O filme
conta com os atores Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, Brandon Perea, Steven Yeun e Michael
Wincott no elenco principal; e ainda com o
diretor de fotografia Hoyte van Hoytema,
cujo portfólio inclui Interstellar
(2014), Dunkirk (2017) e Tenet
(2020); e também com o editor, e colaborador
de longa data de Peele, Nicholas Monsour.
Os heróis desta trama são os irmãos
Haywood, o OJ (Daniel Kaluuya) e a Em (Keke
Palmer), que depois da morte inesperada do
pai, o fundador do rancho Haywood onde
cavalos são treinados para produções
cinematográficas, passam por dificuldades
económicas que ameaçam o encerramento do
negócio. De forma a assegurar a
sobrevivência do rancho, OJ começa a vender
alguns dos cavalos a Ricky “Jupe” Park
(Steven Yeun), uma ex-estrela de cinema e
televisão infantil que se tornou dono de um
rancho aberto ao público para
entretenimento.
Desde início é
evidente que as circunstâncias que rodeiam o
rancho Haywood não são só uma questão de
azar, mas sim efeito de uma causa
sobrenatural: a queda de pequenos objetos do
céu, como moedas e chaves, que vitimou o pai
de OJ e Em; o comportamento estranho dos
cavalos; as falhas de energia elétrica sem
explicação aparente. Estas suspeitas são
confirmadas quando um OVNI é avistado a
sobrevoar o rancho e os irmãos Haywood, ao
reconhecer uma oportunidade de ouro e
motivados pela falta de dinheiro, decidem
capturar prova de vida alienígena em vídeo.
Para ajudar a concretizar esta missão entra
em cena o jovem Angel Torres (Brandon
Perea), técnico numa loja de produtos
eletrónicos e conspiracionista de
extraterrestres, e posteriormente, junta-se
também ao grupo o diretor de fotografia e
documentarista, Antlers Host (Michael
Wincott).
A grande surpresa e
complicação do enredo, descoberta e revelada
por OJ, é que o disco voador não é uma nave
espacial que transporta figuras humanóides
vindas de outros planetas como Hollywood
prometera, mas é sim o próprio
extraterrestre. Ou seja, o objeto que os
aterroriza não se trata de nenhum objeto,
mas sim de um ser inteligente. Um predador
gigantesco que voa e devora tudo que tenha
pulso e depois esconde-se por entre as
nuvens, omnipresente e inalcançável, um
verdadeiro Leviatã dos céus vindo dos
confins do espaço. Um monstro que evolui da
sua forma oval ancestral para uma forma
final, que se desmembra e se expande, como
uma medusa que se move pelo ar em vez da
água. Esta revelação física final é o
pontífice num filme que é visualmente
cativante de início ao fim.
A origem
do extraterrestre, ou do Jean Jacket como é
apelidado por OJ, é desconhecida, mas a
razão pela qual fez deste vale californiano
sossegado o seu território torna-se clara
para OJ: Jupe tentou domesticar um predador
e usá-lo como atração principal do seu
rancho, mas o tiro saiu-lhe pela culatra e
foi devorado. Porque afinal de contas, e
sendo este um filme assinado por Jordan
Peele que usa o género do terror para
ridicularizar a sociedade moderna, o Jean
Jacket não é o único monstro do filme, há um
outro monstro em jogo: a cultura do
espetáculo. Desde a rendição total de Jupe
aos horrores do espetáculo em nome do lucro;
passando pelo estado permanente de vigia
devido à obsessão contemporânea com a
perpétua documentação fotográfica; tocando
até mesmo na insensibilidade que rege a
indústria do entretenimento e dos média.
Desta forma e através de simbolismos e
paralelos, Peele põe a sociedade do
espetáculo debaixo do holofote em Nope.
Nope é uma convergência de
referências culturais e géneros fílmicos com
uma cinematografia e design de produção
originais, coloridos e marcantes. A receita
incomum de western moderno e
ficção-científica clássica resulta no filme
de terror perfeito, desde as sequências
horríficas das vítimas no interior do
aparelho digestivo do extraterrestre às
sequências emocionantes do OJ montado no
cavalo pronto a enfrentar um inimigo do
tamanho de um titã. É um filme de terror
recheado de momentos divertidos graças à
química entre as personagens e as suas
personalidades que chocam umas com as
outras. Todos os performances do elenco
principal elevam o filme, mas é a Keke
Palmer como Em, extrovertida e inquieta, e o
Daniel Kaluuya como OJ, sério, calado e
focado no trabalho, evocando os cowboys dos
velhos clássicos, que dominam o ecrã e
perduram na memória.
Nope, é
o filme de Jordan Peele com a premissa mais
simples, mas é também o filme mais criativo
e ambicioso do realizador até à data.
Incrivelmente imersivo e visualmente
estimulante.
Classificação: ★★★★★
Não Está Tudo Bem (2022)
- Partilhar 02/08/2022

Não Está
Tudo Bem (título original:
Not Okay) é uma comédia satírica sobre
influencers digitais. O filme da
autoria de Quinn Shephard conta com Zoey
Deutch no papel de Danni Sanders, uma
aspirante a influencer, sedenta por
atenção e fama. O filme estreou a 29 de
julho e foi lançado diretamente em
plataformas de streaming, com
distribuição na Hulu nos Estados Unidos e na
Disney Plus nos restantes países, incluindo
Portugal.
O filme inicia-se com um
aviso de conteúdo irónico em que se lê “Este
filme contém luzes estroboscópicas, temas de
trauma, e uma protagonista detestável. O
conteúdo pode ferir suscetibilidades”.
Aviso este que serve como amostra do tom
humorístico do filme e como crítica da
personagem principal. Conhecemos Danni após
a implosão das consequências das mentiras
que fabricou. Fechada no quarto, com
lágrimas a escorrer pela face e os olhos
colados ao ecrã do computador enquanto clica
em vários artigos, comentários e vídeos de
ódio a ela direcionados. Por meio de
narração confessa-nos como desejava ser
reconhecida e amada, como sonhava em ser
alguém importante, e depois quebra a
narração e a quarta parede, dirigindo-se
diretamente à audiência, e avisa-nos para
termos cuidado com o que se deseja. De
seguida, através de analepse, retrocedemos
na história para o princípio da trama.
Danni Sanders é uma jovem adulta
preocupada com as trends atuais e
presa à câmara frontal do telemóvel da mesma
forma que Narcisso ficou cativado pela sua
reflexão na água. Quando não está a tirar
selfies ou a ver vídeos de influencers,
por norma, está ocupada a ignorar prazos de
trabalhos que tem a entregar na empresa de
jornalismo digital viral (semelhante ao
Buzzfeed) onde está empregada como editora
de fotografia. O seu foco está em tornar-se
alguém mais importante, desejo este fruto
não só da vaidade e egocentrismo que definem
o seu carácter, mas também de uma solidão
debilitante uma vez que não tem amigos e os
colegas de trabalho não gostam dela. Quando
por sorte do acaso encontra na rua Collin
(Dylan O’Brien), o colega de trabalho e
influencer pelo qual se sente atraída,
ela aproveita esta chance para o
impressionar ao afirmar que foi convidada
para um workshop de escrita em Paris e, pela
primeira vez, Collin verdadeiramente repara
nela.
Danni, entusiasmada com a
reação que obteve e desesperada por
seguidores e fama, leva essa pequena mentira
para outro nível quando começa a postar no
Instagram fotografias manipuladas no
Photoshop e cria uma realidade em que está
em Paris. Porém, quando um ataque terrorista
ocorre em Paris a fabricação que criou fica
em risco de ser descoberta, mas rapidamente
percebe que pode aproveitar esta tragédia e
a sua mentira evolui para ter presenciado o
atentado terrorista e sobrevivido. De forma
a tornar a sua mentira ainda mais realista
Danni frequenta um grupo de apoio para
vítimas de atentados onde conhece a jovem
Rowan (Mia Isaac), uma sobrevivente de um
tiroteio numa escola, e uma figura famosa no
movimento de legislação de armas. Danni,
reconhecendo uma oportunidade de ouro,
rapidamente aproxima-se de Rowan e torna-se
sua amiga, tendo como objetivo aprender a
ser como ela por via de imitação. Ao
utilizar o trauma, a dor e a empatia a jovem
ganha cada vez mais clicks e likes,
mais seguidores, o carinho dos colegas de
trabalho, a atenção de Collin, e quando
publica o seu artigo e cria uma hashtag
viral consegue alcançar, finalmente, o seu
objetivo de ser famosa. Mas essa fama tão
desejada rapidamente se transforma em
infâmia quando uma colega de Danni descobre
o seu segredo e a põe entre a espada e a
parede.
Enquanto comédia o filme tem
momentos bons em que a futilidade,
ignorância e privilégio originam cenas de
diálogo caricatas uma vez que a desconexão
com a realidade é tão gritante que se torna
ridículo. As dinâmicas entre certas
personagens são bastante cómicas,
nomeadamente entre a Danni e a chefe de
trabalho quando a tenta chamar a atenção sem
sucesso ou ainda entre a Danni e o Collin, o
influencer superficial que deixa
sempre uma nuvem de fumo de vape
atrás por onde quer que passe.
Enquanto sátira falta-lhe acidez, por outras
palavras, é como uma faca pouco afiada. A
ironia e sarcasmo estão presentes, mas são
minados pelo teor honesto, e quase
justiceiro, da crítica social presente ao
longo do filme, especialmente quando
relativa ao trauma da Rowan e a violência
dos tiroteios nos Estados Unidos, que ceifam
tantas vidas por ano. O filme demarca uma
posição ao condenar a violência e as ações
explorativas de tragédias para proveito
próprio, defendendo que a protagonista não
tem direito a uma redenção e que tem de
sofrer as consequências. Mas apesar do filme
explicitar desde o início que a protagonista
é uma pessoa detestável, a verdade é que é
feita uma contextualização da personagem (a
depressão diagnosticada, a solidão e falta
de propósito) que acabam por gerar alguma
empatia. De qualquer das maneiras, o seu
final está definido, e ela sai de cena,
sendo engolida pelas sombras, não há lugares
ou holofotes para Danni Sanders nesta
sociedade, a crítica é clara.
Em
termos técnicos a cinematografia é
adequadamente vibrante para o mundo
superficial de aparências online e
enaltecida por uma banda sonora de música
Pop. Algumas das sequências são criativas
com slides, enquadramentos e cores que
invocam a energia das transições de vídeos
em redes sociais, mas aplicado de forma
cinemática ao filme.
De forma geral
Não Está Tudo Bem é um filme decente,
com alguns bons momentos de comédia, mas que
deixa a desejar enquanto sátira. No entanto,
a crítica social é sólida e relevante à
atualidade, abordando e recriminado a
obsessão com atenção a qualquer custo nos
espaços digitais, a ignorância nascida do
privilégio, a superficialidade que germina
nas redes sociais e a violência na sociedade
norte-americana.
Classificação: ★★★
Elvis (2022) – “O Retorno do Rei”
- Partilhar 09/07/2022

Elvis Presley, o Rei do Rock ‘N’ Roll, volta
a resplandecer no grande ecrã pela mão do
realizador australiano Baz Luhrmann.
Elvis foi apresentado pela primeira vez
em maio no Festival de Cannes e estreou em
Portugal a 23 de junho. O drama biográfico
musical é tudo aquilo que se poderia esperar
do realizador de Romeu + Julieta
(1996), Moulin Rouge (2001) e O
Grande Gatsby (2013): excêntrico,
elétrico e efervescente. É um rodopio de
cores e transições que nunca perde
velocidade ou ritmo. O estilo maximalista
impactante de Baz Luhrmann é o veículo ideal
para contar a vida e obra do icónico Elvis
Presley, interpretado pelo jovem ator Austin
Butler.
A saga de Elvis, desde o
nascimento e infância na pequena cidade de
Tupelo até à sua morte 42 anos mais tarde, é
contada a partir do ponto de vista do seu
agente, o Coronel Tom Parker (Tom Hanks).
Endividado e doente, o Coronel deambula
pelos casinos de Las Vegas e recorda o seu
relacionamento com o cantor, o diamante em
bruto que transformou na sua galinha de ovos
dourados pessoal ao ter se estabelecido como
uma pessoa pela qual Elvis tinha confiança e
carinho, quase como uma figura parental. Mas
as mentiras e ganância de Parker rapidamente
se tornam evidentes durante a narração que
nos guia pela montanha-russa espetacular que
foi a vida de Elvis Presley: os altos e
baixos, as virtudes e falhas, o sucesso
estratosférico e, por fim, a morte
prematura.
Elvis foi um artista
prolífico e uma das figuras mais importantes
da cultura popular do século XX, uma pessoa
cujo percurso de carreira reflete as
mudanças sociais do próprio país. Conter
quatro décadas da vida de um artista desta
magnitude num filme é uma tarefa impossível,
mas o realizador Baz Luhrmann constrói um
caleidoscópio dos momentos definidores de
Elvis e mapeia a sua ascensão a ícone
musical e cultural: desde a infância; às
primeiras músicas gravadas na Sun Records;
os concertos do Hayride; o sucesso depois de
estar sob a alçada (e controlo) do Coronel;
as aparições na televisão; o furor que
causava nos jovens e a indignação dos
políticos conservadoristas; o tempo no
exército onde conheceu a sua futura esposa
Priscilla (Olivia DeJonge); o declínio da
carreira após uma série fracassos de
bilheteria em Hollywood; o renascer das
cinzas com o especial de ‘68 e o êxito
descomunal no International Hotel em Las
Vegas, onde regressaria anualmente até à sua
morte.
O filme dá nos um entender
profundo de quem Elvis era e do que o
tornava tão especial. É dada uma ênfase
especial às inspirações que o moldaram
enquanto artista e indivíduo: desde a
infância passada num dos bairros mais pobres
de Tupelo, onde passava o tempo a sonhar
acordado e imaginar-se um super-herói das
bandas desenhadas, e a absorver a cultura e
música negra, os Rhythm and Blues e o Gospel
da igreja; até à mudança para Memphis onde
frequentava regularmente a Beale Street,
conhecida como a “Home of the Blues”.
A música Gospel, em especial, era uma fonte
de consolo e força em momentos de crises
pessoais e de carreira para Elvis. O que
tornava Elvis tão único, e perigoso, é toda
a influência de música negra à qual dava um
toque de música Country branca, o que
assustava os pais conservadoristas dos
estados segregacionistas do Sul.
É
verdade que Elvis nem sempre é
factualmente correto. Motins aconteciam em
alguns concertos de Elvis Presley, mas o
concerto em Russwood Park em ‘56 não acabou
em motim depois de uma só música, para além
do mais, em ‘56 Elvis não conhecia a “Trouble”
uma vez que a música só seria escrita
em ‘58 para o filme que iria protagonizar,
King Creole. A reunião inicial para
o especial de ‘68 não aconteceu no letreiro
danificado de Hollywood, mas sim num
escritório. O especial de 68’ não foi feito
às escondidas do Coronel e não foi uma
surpresa para os produtores executivos, essa
reviravolta seria tecnicamente impossível de
fazer. Mas se pensarmos nestas
incongruências factuais como as liberdades
artísticas intencionadas que são e que
mostram o contexto, motivações e
consequências reais e, simultaneamente,
movem a história no ritmo tão característico
de Baz Luhrmann, rapidamente se torna
evidente que não são falhas apontáveis, mas
sim mecanismos melhorativos da narrativa.
Enquanto autor, Baz Luhrmann, aborda as suas
histórias como espetáculos visuais com um
ritmo alucinante e inclui elementos que
modernizem e choquem estilisticamente. Um
desses elementos é a inclusão de música da
atualidade, e Elvis não foi
exceção, contando com remixes de músicas de
Blues clássicas por artistas de Rap como
Doja Cat e Denzel Curry.
Elvis
Presley é um artista “larger-than-life”
(expressão anglofóna que significa
“maior do que a própria vida” e tão bem
descreve o fenómeno que foi o cantor) com
uma carreira tão longa que não consegue ser
contida num filme de duas horas e meia. Mas
Baz Luhrmann cria uma visão completa e
multifacetada do Rei do Rock ‘N’ Roll: a
dicotomia do jovem sulista extremamente
bem-educado e do jovem artista rebelde
perturbador do equilíbrio social; o filho
dedicado que ficou perdido depois da morte
da mãe; o artista explorado e aprisionado
economicamente pelo Coronel Parker; os
comprimidos prescritos que rapidamente
passaram de conforto a vício debilitante; o
sonho não concretizado de fazer um
verdadeiro filme clássico; e o talento inato
para estar em palco e conquistar tudo e
todos à sua frente.
Mas o que torna
Elvis tão formidável não é só
aquilo que Baz Luhrmann mostra, mas, mais
importante, como mostra e as sensações que
cria ao longo de todo o filme, evocando com
a sua direção artística o espírito de Elvis
Presley e o efeito incendiário que o cantor
provocava. Como, por exemplo, o êxtase
eufórico e sensual da sequência do concerto
de Hayride, composta por um frenesim
elétrico de planos curtos e cortes rápidos,
em que Elvis pisa pela primeira vez o palco
e provoca uma exaltação nunca antes vista
entre as adolescentes com música de Rhythm
Blues e o abanar lascivo das ancas e pernas,
transmitido visualmente como Elvis foi um
fruto proibido para uma América reprimida e
um precursor para a revolução sexual. Ou
ainda a sequência final do filme, uma
montagem do último concerto que passa
suavemente do Elvis de Austin Butler para
imagens de arquivo do verdadeiro Elvis, num
adeus final solene no qual o cansaço físico
não afeta o brilho inesquecível da sua voz,
que permanece e ecoa eternamente mesmo
depois da sua morte.
E se Baz
Luhrmann evoca Elvis ao construir o filme, o
ator Austin Butler encarna Elvis do início
ao fim sem nunca se perder. Desde o sotaque
(que muito facilmente poderia ter parecido
uma caricatura) aos maneirismos e expressões
mais subtis, desde o abanar do corpo
enquanto é possuído pelo ritmo dos Blues até
ao olhar sedutor que aliciou milhares. Até a
voz do cantor o jovem ator conseguiu
dominar, sendo que ele mesmo cantou várias
das músicas de Elvis para o filme (entre as
quais “Baby, Let’s Play House”, “Hound
Dog”, “Trouble” e “That’s
Alright”). E não só cantou as músicas,
como esteve à altura do talento de Elvis, o
que por si só já é uma performance de uma
perfeição completamente admirável. O Elvis
de Austin Butler parece-se tanto com o
original que poderia ser uma cópia
praticamente idêntica, mas descrever a
interpretação de Austin Butler como uma mera
cópia não faz justiça à profundida e
sensibilidade emocional que o ator deu à
personagem, fruto de uma dedicação profunda.
Elvis é o primeiro grande projeto
do ator e, certamente, irá consagrá-lo como
uma estrela em Hollywood.
Depois dos
sucessos comerciais em anos recentes de
filmes sobre músicos do Rock ‘N’ Roll como
Bohemian Rhapsody (2018) e
Rocketman (2019), estava mais do que na
altura do Rei do Rock ‘N’ Roll ter o seu
momento no grande ecrã. E Elvis foi
muito mais além do que os seus predecessores
graças, em grande parte, à audácia de Baz
Luhrmann e ao talento de Austin Butler.
Luhrmann é um autor polarizante, o seu
estilo maximalista tende a dividir o
público, ou se adora ou se odeia, mas é
exatamente esta exuberância estilística que
se adequa a Elvis Presley, imortalizado no
panteão da cultura popular americana com o
seu legado musical, estilo icónico e
ornamentação ostensiva.
Elvis
é um caleidoscópio cinemático de cores
vibrantes, flashes e movimentos rodopiantes
de câmaras, tiras de bandas desenhadas
animadas, justaposições de efeitos, títulos,
cartazes, mapas e fotografias numa colagem
visual glamorosa com uma quantidade
excessiva de planos por sequência. Elvis
é um filme que só poderia ter sido feito por
Baz Luhrmann, um filme do mais puro e cru
Rock ‘N’ Roll em que o seu Rei é apresentado
visualmente como um super-herói lendário.
Classificação: ★★★★★
Top Gun: Maverick (2022)
- Partilhar 06/06/2022

Trinta e seis anos depois da estreia de
Top Gun - Ases Indomáveis Tom Cruise
volta a encarnar o mítico piloto Pete
“Maverick” Mitchell, papel que lançou o ator
para a estratosfera e o estabeleceu como uma
estrela entre as estrelas. Durante anos
Cruise recusou-se a fazer uma sequela para o
original de 1986, mas depois do realizador
Joseph Kosinski lhe ter apresentado o
argumento, movido pela relação de Maverick e
o filho de Goose, o ator foi finalmente
convencido. Tom Cruise e Val Kilmer retomam
os papéis originais e junta-se ao elenco
Miles Teller, Jennifer Connely, Jon Hamm,
Glen Powell, Monica Barbaro, Lewis Pullman e
Ed Harris.
Top Gun: Maverick
foi exibido pela primeira vez no festival de
Cannes a 17 de maio onde obteve uma receção
positiva e valeu a Cruise uma Palma de Ouro
honorária. O filme estreou em Portugal a 26
de maio e alcançou sucesso comercial a nível
mundial, tornando-se o filme com maior
receita de bilhetaria na carreira de Cruise.
Em Top Gun: Maverick
reencontramos Maverick como um piloto de
testes, um verdadeiro ás que se destaca
entre os melhores pilotos da Marinha e
ultrapassa limites com um talento inegável.
Apesar de ter sido condecorado com várias
distinções pelos seus feitos ao longo de
mais trinta anos de serviço, Maverick nunca
subiu na hierarquia da Marinha e continua a
ser só um capitão, o que lhe permite
continuar a voar em serviço. Devido à
importância e improbabilidade de sucesso de
uma missão especial, Maverick regressa à
academia Top Gun, mas desta vez no papel de
instrutor. Foi feita uma seleção dos
melhores pilotos da Marinha para aprenderem
sob a tutela de Maverick e entre estes
encontra-se Bradley “Rooster” Bradshaw
(Miles Teller), filho do falecido melhor
amigo de Maverick, Nick “Goose” Bradshaw
(Anthony Edwards). O relacionamento entre
Maverick e Rooster é turbulento e
conflituoso devido à tentativa de Maverick
de manter Rooster fora da Marinha e longe do
perigo.
No cerne da questão que move
a narrativa do filme está o desejo que
Maverick tem de ser uma figura paternal para
Rooster e de o proteger de uma morte
antecipada; a culpa que sente pela morte de
Goose e o fardo de enviar jovens para uma
missão mortífera na qual muitos poderão
perder a vida.
Mais de trinta anos
depois do original, Top Gun: Maverick
pode ser uma das melhores sequelas algumas
vez feitas. A nova geração de pilotos é tão
arrogante, confiante e audaz como a
primeira, desafiam-se uns aos outros à
primeira chance que têm, mas o sentido de
camaradagem une-os ao final do dia. O filme
faz paralelos e referências diretas ao
original e reitera o sentido de humor, a
música icónica e o espírito juvenil e
imparável que definem Top Gun, tendo
até recriado montagens icónicas como a
montagem introdutória e a montagem do jogo
de volleyball na praia, sendo desta vez
futebol americano durante o pôr-de-sol e em
contraluz. É um filme que entende o poder da
influência que o original tem na cultura
popular e que percebe como reavivar o mito
da personagem de Maverick sem a banalizar.
Os relacionamentos entre as personagens
conduzem a ação, mas Top Gun: Maverick
mantem-se preso ao cânone estabelecido e
previsível do género de ação. Os adversários
são os “maus”, tal como no original trata-se
de um inimigo cuja identidade e
nacionalidade é omitida ao público, apenas
interessa o foco nos “bons”, nos heróicos e
valentes pilotos. O romance é obrigatório,
como é de esperar de um filme de ação deste
calibre, e desta vez o interesse romântico é
a Penny (Jennifer Connely), que apesar de
ser um ótimo ombro amigo para Maverick, a
química com o mesmo é por vezes algo
insípida e fica muito aquém do romance
original de Top Gun com Charlie (Kelly
McGills).
Mas o que torna Top Gun:
Maverick tão formidável é o aspeto
técnico por detrás da pilotagem dos caças.
As manobras e voos são reais e as reações do
elenco genuínas. Tom Cruise, conhecido fazer
as próprias acrobacias nos filmes e não
utilizar duplos, queria autenticidade e
realismo na sequela de Top Gun. O
ator formulou um plano de treinos para
preparar os atores a suportarem a força G e
os voos nos caças F-18. Óbvio que os atores
não pilotaram os caças, mas voaram nos
mesmos no lugar do pendura enquanto os
pilotos verdadeiros da Marinha faziam as
manobras. Foram necessário meses de treino e
foram investidos milhões de dólares para
alugarem os caças F-18. Foi necessário um
excelente trabalho de equipa e coordenação
entre atores (que tinham de controlar as
câmaras nos cockpits) e o resto da equipa
técnica para obterem boas filmagens de
dentro do cockpit.
Isto resultou em
montagens de voos viscerais e realistas, em
que o poder bruto destas máquinas e o
impacto que a gravidade tem no corpo humano
prevalecem e espantam os espetadores. As
sensações alcançadas nestas cenas de ação
dificilmente serão desmerecidas até pelo
mais impiedoso crítico.
Top Gun:
Maverick veio para dominar as salas de
cinema, é um filme do mais puro e aliciante
entretenimento que relembra a saudosa era de
quando os filmes de ação não eram filmados
maioritariamente com green screens. É
um filme que promete maravilhar desde os fãs
mais ardentes até à geração mais jovem.
Classificação: ★★★★
Northman (2022)
- Partilhar 03/05/2022

The Northman, cujo título português é
O Homem do Norte, trata-se do
terceiro filme do realizador norte-americano
Robert Eggers e estreou nas salas de cinema
portuguesas a 21 de abril. Eggers, aclamado
por The Witch (2015) e The
Lighthouse (2019) e reconhecido pela sua
preferência por filmes históricos no género
de horror, embarca agora numa aventura
diferente com o épico de vingança viking de
grande orçamento.
The Northman
é baseado na lenda nórdica de Amleth, a
inspiração direta para a peça Hamlet
de Shakespeare. Esta adaptação passada no
século X, co-escrita por Robert Eggers e
Sjón, segue a jornada sangrenta e destrutiva
do jovem príncipe viking Amleth (Alexander
Skarsgård) para vingar o pai, o Rei
Horvendill (Ethan Hawke), traído e
assassinado pelo próprio irmão Fjölnir
(Claes Bang) que cobiçava o trono e a rainha
Gudrún (Nicole Kidman). Amleth consegue
escapar com vida e jura vingar o pai, salvar
a mãe e matar Fjölnir; jura cumprir o seu
dever e cumprir o que lhe foi profetizado.
Muitos anos passam e Amleth torna-se um
grande guerreiro que saqueia povos na Europa
com um grupo de vikings. É numa destas
aldeias que Amleth encontra uma bruxa que o
relembra da profecia que lhe foi lida em
criança, que um dia ele iria matar o
assassino do pai num lago de fogo, e do
juramento que ainda não cumpriu. Amleth, com
sede de vingança, infiltra um barco de
escravos destinados a serem vendidos a
Fjölnir, onde conhece a escrava eslávica
Olga (Anya Taylor-Joy) que o irá ajudar a
alcançar o seu objetivo.
Esta
produção conta, para além dos atores
anteriormente referidos, ainda com Willem
Dafoe e Björk nos papéis de bruxos profetas,
formando desta forma um elenco principal de
renome que fortifica o filme com excelentes
performances.
Sendo The Northman
o primeiro projeto de Eggers financiado e
produzido por um grande estúdio, e uma vez
que a temática trágica de Amleth (e
Hamlet de Shakespeare) é bastante
familiar, é natural que este seja o filme
mais acessível e amigável para o grande
público da autoria de Eggers até à data.
Porém, The Northman mantém os
elementos que caracterizam a visão artística
do cineasta: o estranho, o fantástico, o
sombrio e o violento. São todos estes
aspetos, mais o esforço por demonstrar e
incutir o aspeto histórico e mitológico no
mundo das suas personagens, que destacam o
trabalho de Eggers, e que são plenamente
evidentes na sua obra mais recente.
O
grande orçamento permitiu ao realizador
envergar por caminhos que ainda não tinha
explorado, como por exemplo, cenas de lutas
inegavelmente complexas com imensos
figurantes, sendo um dos momentos mais
louváveis em termos técnicos do filme o
plano-sequência do saqueamento de uma das
aldeias, que envolveu não só os guerreiros e
habitantes como também ainda cavalos e fogo.
O maior uso de efeitos especiais em
sequências fantasiosas e simbólicas foi
explorado com mestria criando imagens que
misturam o mitológico com o psicadélico.
Eggers provou desta forma ser capaz de
dirigir um filme épico de grande escala sem
comprometer a sua visão artística
individual.
The Northman é,
inclusive, a terceira colaboração de Eggers
com o diretor de fotografia Jarin Blaschke
cuja cinematografia foi, mais uma vez, tão
impecável quanto implacável ao capturar a
beleza agreste deste conto viking passado
maioritariamente na Islândia.
A
história de vingança protagonizada por
Amleth é simples, mas a simplicidade do
objetivo não a torna menos interessante. As
dinâmicas entre as personagens, tanto de
ódio e de amor; as temáticas de dever,
justiça, honra e profecia; o bizarro e
brutal da religião dos velhos deuses
nórdicos e a promessa de Valhalla; e, por
fim, a impossibilidade de fugir ao destino,
são todos componentes narrativos que cativam
do início ao fim.
The Northman
é o resultado de quando grandes estúdios
apostam em jovens realizadores inovadores, é
a perfeita simbiose entre o fantástico e o
violento. É um filme que deve ser
obrigatoriamente visto em sala de cinema
para apreciar a escala e beleza.
Classificação: ★★★★★
Competição Oficial (2021)
- Partilhar 04/04/2022

A co-produção espanhola-argentina
Competição Oficial, protagonizado por
Penélope Cruz, António Bandeiras e Oscar
Martínez, estreou nos cinemas portugueses a
24 de março. O projeto é dirigido pelo duo
de realizadores Gastón Duprat e Mariano
Cohn, que contam com um longo trajeto de
colaborações cinematográficas.
Competição Oficial trata-se de uma
comédia dramática com uma ideia simples, mas
original: Humberto Suaréz (José Luís Gomez),
um magnata da indústria farmacêutica
obscenamente rico, decide impulsivamente
financiar e produzir o melhor filme de
sempre para ser lembrado como o homem por
detrás dessa produção. Suaréz contrata Lola
Cuevas (Penélope Cruz), uma realizadora
renomeada e irreverente, e esta, por sua
vez, traz a bordo do projeto dois atores
talentosos de círculos bastante diferentes:
Félix Rivero (António Banderas), uma estrela
de cinema extremamente popular
internacionalmente, e Iván Torres (Oscar
Martínez), ator de teatro e professor de
prestígio, conhecido pelo título de “Mestre”
dentro do círculo artístico das artes de
representação. A escolha de atores de Lola
foi feita de forma consciente para
aproveitar a diferença entre ambos e
cultivar a rivalidade e utilizá-la para dar
forma às personagens do filme. Esta tensão
entre os dois artistas, que irão fazer de
irmãos no filme de Lola, é posta à prova e
intensifica-se com o decorrer das sessões de
ensaios.
A rivalidade e o ego
artístico e pessoal dominam toda a ação do
filme, no fundo, são o centro gravitacional
da história. A importância do legado está no
centro das motivações das personagens: o
bilionário com desejos de imortalizar-se por
meio de um legado positivo; a realizadora
que se define como genial, incompreensível e
sensível; a estrela de cinema e os seus
prémios, cheques milionários e mansões e o
ator elitista que olha com repugnância tudo
aquilo que é popular e adorado pelas massas.
São os egos exacerbados das
personagens que tornam Competição Oficial
tão aliciente, divertido e, por vezes,
chocante. A rivalidade existe primeiramente
entre os dois homens, mas a relação do trio
é igualmente tensa e volátil. Lola,
completamente rendida à sua visão artística,
é exaustiva e implacável gerando o caos com
exercícios arriscados durante os ensaios. A
rivalidade entre Félix e Iván transborda
toxicamente dentro e fora de cena, e cresce
até se tornar ódio, ao ponto de poderem
traçar-se paralelos entre a vida real dos
atores e o par de irmãos fictícios que
representam. Por fim, todo este desdém
culmina em reviravoltas surpreendentes e
consequências desastrosas que ameaçam o
plano inicial do filme de Lola.
Competição Oficial executa
brilhantemente uma ideia original ao criar
um guião cativante e fazer um excelente uso
do talento do elenco que protagoniza o
filme. É ainda elevado por uma
cinematografia e direção de arte que enfoca
a magnitude dos edifícios e salas de ensaios
remetendo, desta forma, para o tamanho do
ego destes artistas. Outra faceta louvável é
ainda o empenho em demonstrar a intensidade
e intimidade da arte da representação ao
executar planos grandes em que o ator olha
diretamente para o público como se fosse o
seu parceiro de cena.
Com uma
duração de quase duas horas Competição
Oficial nunca perde o ritmo ou o fio à
meada. E apesar da qualidade excêntrica das
personagens, usada naturalmente para
fortalecer a comédia e drama do enredo, há
um fundo de verdade nas perguntas que surgem
sobre prestígio, cultura do espetáculo,
popularidade, criatividade e ingenuidade
artística, porque é, afinal de contas, um
filme sobre fazer filmes. “O que é um bom
filme? Quem decide? Por gostares de algo
significa que é verdadeiramente bom?” são
várias das perguntas que borbulham por entre
disputas e confissões.
Competição
Oficial é um daqueles filmes com a
qualidade rara de nos prender desde início e
perdurar na mente muito depois de sairmos da
sala de cinema.
Classificação: ★★★★★
A Vida Extraordinária de Louis Wain
- Partilhar 01/02/2022
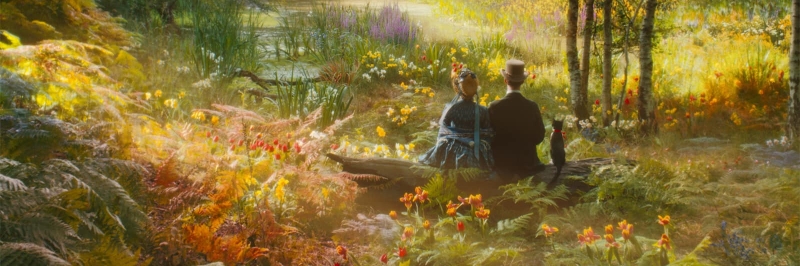
A Vida
Extraordinária de Louis Wain
estreou nas salas de cinema portuguesas a 20
de janeiro. Este filme biográfico, da
autoria do realizador Will Sharpe, é
protagonizado pelo ator Benedict Cumberbatch
que encarna o enigmático artista britânico
que encantou o mundo com as suas pinturas de
gatos caracterizadas por um estilo único
reconhecível (e imitado) até à nossa
atualidade. Esta produção britânica traz ao
grande ecrã a vida e obra de Louis Wain,
seguindo as suas peripécias desde a década
final de 1800 até 1930.
Inicialmente, a personagem de Louis Wain
enquadra-se perfeitamente no arquétipo de
génio excêntrico, estranho e com pouca
aptidão social. Arquétipo este pelo qual o
ator Benedict Cumberbatch é conhecido
(Sherlock na série homónima da BBC, Alan em
The Imitation Game, Doctor Strange no
universo cinemático da Marvel). Conhecemos
Wain num frenesim, sempre em movimento,
dedicado a todas as suas paixões em
simultâneo, desde composição de óperas às
suas patentes, porém não tem sucesso nessas
experiências. Sendo um pintor talentoso,
Wain encontra nas ilustrações para o jornal
a forma para providenciar para as irmãs mais
novas e mãe, visto que era a sua
responsabilidade enquanto chefe de família.
Wain é audaz, frenético e completamente
obcecado pela ideia de “eletricidade”, a
ideia de energia como força omnipresente e
capaz de solucionar todos os males.
A criatividade e necessidade de
desvendar a misteriosa “eletricidade” parte
não só da curiosidade inerente ao jovem
artista, mas também de uma dor profunda, que
assume forma em pesadelos e neuroses
presentes desde criança. Como se tornam
então os gatos o objeto de interesse nas
pinturas de Wain, um artista torturado e
brilhante? A resposta é simples: devido à
sua esposa, Emily Richardson (Claire Foy).
Pouco tempo depois de se casarem, Emily é
diagnosticada com cancro. É nessa altura que
o casal encontra um gato bebé e adota-o como
animal de estimação, algo incompreensível
para a altura, e Louis começa a desenhar o
gatinho, Peter, para Emily. Incentivado pela
esposa, Louis mostra os desenhos dos gatos
ao editor do jornal e estes são publicados.
As ilustrações de Louis são uma
revolução artística e social, tornaram-se
extramente populares rapidamente e mudaram a
opinião pública sobre gatos, outrora olhados
com desconfiança foram agora elevados a
animais de estimação adoráveis. Este sucesso
deve-se, tal como a esposa e amigos próximos
de Wain afirmam, ao facto de o pintor ser o
primeiro a entender a natureza dos gatos
(forasteiros; ridículos, mas ternurentos;
assustadiços, mas corajosos) e expressá-la
com esse leque de facetas, em parte por ele
próprio partilhar essas mesmas
características.
Mesmo depois da dor
descomunal que foi perder Emily, depois da
queda da popularidade das suas ilustrações e
do seu estatuto social e económico, Louis
continuou a desenhar gatos até ao fim e a
sua fixação na “eletricidade” apenas
aumentou. A evolução na sua arte demonstra
esse mesmo declínio mental e emocional,
chegando a ter traços psicadélicos.
O
mais louvável em A Extraordinária Vida de
Louis Wain é a dedicação em contar
visualmente a história no estilo artístico
que reflete o artista e a sua época. Os
exemplos são vários desde pesadelos filmados
de forma a lembrar os filmes do início do
séc. XX tingidos em azul a sequências
psicadélicas perto do internamento de Wain.
Mas, o mais admirável são os planos que se
transformam ao ponto de se assemelharem a
quadros autênticos com pinceladas, por meio
de efeitos visuais, desfoque, tonalidade e
vivacidade da luz e das cores na paisagem,
capturando e imortalizando a “eletricidade”
a que Louis se refere quando estava na
presença de Emily, aquela energia única, a
conexão e amor sentidos naqueles momentos, o
pontífice do belo capaz de solucionar tudo.
A Extraordinária Vida de Louis Wain
é um filme em termos estilísticos
maximalista, decidido a reproduzir o
sentimento da obra e carácter do pintor, que
pela maior parte mantém uma narrativa coesa
e interessante, balançando o eufórico e
disfórico da vida elétrica de Wain.
Classificação: ★★★★
A Mão de Deus (2021)
- Partilhar 07/01/2022

A Mão de
Deus, cujo título original é È stata
la mano di Dio, é o filme mais recente
e, inclusive, o mais pessoal do realizador
italiano Paolo Sorrentino. O autor alcançou
renome internacional com A Grande Beleza
(2013), vencedor do Óscar de Melhor
Filme Estrangeiro, e The Young Pope
(2016), a aclamada mini-série da HBO.
Sorrentino que é caracterizado por um estilo
cinematográfico maximalista e ostentativo
opta agora, pela primeira vez na sua
carreira, por um estilo mais simples e
sóbrio para A Mão de Deus. O filme
estreou no Festival de Veneza em setembro,
onde ganhou o Grande Prémio do Júri, e
estreou globalmente na plataforma Netflix a
15 de dezembro.
Em A Mão de Deus,
Sorrentino regressa à sua terra natal de
Nápoles e aborda, pela primeira vez, a
tragédia dolorosa que foi perder os pais
quando era apenas adolescente. O jovem
Fabietto (Filippo Scotti) é o protagonista
desta obra autobiográfica ficcional colorida
por toques de realismo mágico que relembram
o grande realizador italiano Frederico
Fellini. Partindo do real, o autor revisita
Nápoles dos anos 80 durante o verão em que
Diego Maradona é adquirido pelo clube de
futebol da cidade, um acontecimento tido
como milagroso e divinal, e que no coração
de fã fervente do Fabietto significaria um
verão promissor para si, para a sua família
e para Nápoles.
Fabietto tem uma
família bastante extensa e vizinhos
excêntricos. É este grande leque de
personagens caricatas como, por exemplo, a
tia infértil que pensa que foi curada pelo
milagre do Pequeno Monge; a mãe que adora
demonstrar o seu talento para partidas e
truques; a velha baronesa com a qual
Fabietto tem a sua primeira experiência
sexual; que tornam possível o humor vivaz e,
por vezes, absurdo do filme.
Em A
Mão de Deus a alegria e dor são
dimensões que coexistem no mesmo plano,
sobrepondo-se em diferentes maneiras e
intensidades. Porém, um acontecimento
trágico muda tudo, e desta forma, o filme é
composto por duas partes: o antes e depois
da perda de Fabietto. O adolescente escolhe
ver o Maradona a jogar em Nápoles e não
viaja com os pais para a casa de férias,
onde o casal acaba por morrer devido a uma
fuga de monóxido de carbono.
Fabietto
torna-se órfão inesperadamente e de um dia
para o outro tem de viver com uma perda de
um peso esmagador e a sua infância termina.
A cidade de Nápoles banhada pelo
Mediterrâneo, e os seus antigos monumentos e
marinas, tornam-se o palco para a catarse
que Fabietto procura. Para Fabietto esta
catarse surge com o seu desejo de se dedicar
ao cinema, de se tornar realizador de
filmes.
A Mão de Deus é o
filme mais contido, íntimo e vulnerável de
Sorrentino, é definido pelo tom caloroso da
nostalgia e do amor dos pais e da revelação
do cinema como salvação e transformação,
como uma forma de arte capaz de digerir uma
dor inexplicável. Momentos de realismo
mágico entrelaçam-se no filme como
revelações através de encontros fugazes,
quase oníricos, com o realizador Capuano
(mentor de Sorrentino) e a aparição do
Pequeno Monge.
A Mão de Deus
é um ponto de viragem em termos de estilo e
temática para Paolo Sorrentino e é,
inclusive, o seu melhor filme.
Classificação: ★★★★
Spencer (2021)
- Partilhar 03/12/2021

O filme
biográfico sobre a Princesa de Gales, Diana
Spencer, da autoria do realizador chileno
Pablo Larraín, não é um filme biográfico
convencional, mas sim um drama psicológico
que se desenrola como uma história de
fantasmas. O aviso que antecede o início da
ação, “Uma fábula baseada numa tragédia
real”, encapsula a sensação de conto de
fadas distorcido que permeia Spencer.
Spencer é o segundo filme
biográfico da autoria de Pablo Larraín. Em
2016, Larraín realizou Jackie sobre
Jacqueline Kennedy, esposa do Presidente JFK
e Primeira-Dama dos E.U.A de 1961 a 1963.
Após a receção positiva de Jackie nos
circuitos de festivais de cinema, Larraín
une-se agora ao argumentista Steven Knight,
à diretora de fotografia Claire Mathon e ao
compositor Jonny Greenwood para a produção
de Spencer, protagonizado pela atriz
Kristen Stewart.
A Princesa Diana é
um ícone da cultura popular que perdura na
memória global mesmo quase 25 anos após o
seu trágico falecimento em Paris. Mas
Spencer não tem como objetivo explorar
uma cronologia que se desenvolve ao longo de
vários anos nem os detalhes da sua morte
prematura. Spencer foca-se somente no
fim-de-semana de celebração de Natal de
1991, um total de três dias, quando a
família real se reúne em Sandringham House
tal como dita a tradição. Durante este
fim-de-semana Diana batalha as repercussões
da rigidez, alienação e escrutinação do
sistema monárquico britânico e decide
terminar o casamento com o Príncipe Charles,
herdeiro ao trono.
Spencer é,
acima de tudo, um estudo psicológico e
emocional da personagem Diana durante estes
três dias. O realizador Pablo Larraín e o
argumentista Steven Knight basearam-se em
relatos do staff da família real, mas
adotaram várias liberdades artísticas para
esta biografia ficcionalizada. Os problemas
matrimoniais e casos extraconjugais do casal
real; o conflito e tensão dentro da família
e o desgaste mental, bulimia e automutilação
de Diana são factos publicamente conhecidos.
O filme parte destes factos e
constrói uma narrativa que se assemelha a um
pesadelo: os corredores e quartos de
Sandringham House tornam-se as trincheiras
da batalha interior de Diana, que deambula
pelo espaço como um fantasma, atormentada
por visões da rainha Anne Boleyn
(sentenciada à morte pelo marido, Rei Henry
VIII) e delírios com o colar de pérolas
oferecido a Diana por Charles que, por lapso
de memória, é idêntico ao colar que ofereceu
à amante, tornando o colar o símbolo físico
da traição cometida.
O frenesim
emocional sentido por Diana é amplificado
pelo sentimento de impotência, claustrofobia
e aprisionamento consequente da rigidez do
sistema tradicional real. A abordagem
narrativa de Spencer lembra desta
forma dramas psicológicos como Black Swan
(2010) de Darren Aronofsky ou Vertigo
(1958) de Alfred Hitchcock e afasta-se
formalmente dos típicos filmes biográficos.
A tensão e miséria são palpáveis em
Spencer, mas, no entanto, o filme não se
reduz a esse fatalismo. Após três dias de
inquietação e desespero, Diana liberta-se da
sua jaula impulsionada pelo debate interno
entre as forças do passado, presente e
futuro; pelo conforto encontrado na empatia
de alguns dos membros do staff; e
principalmente, pela felicidade de ser a mãe
de duas crianças incríveis.
Spencer é, no fundo, um conto de fadas
invertido uma vez que a felicidade é
encontrada quando a princesa rejeita o
príncipe, o título e o sistema e, por fim,
reclama o seu apelido, liberdade e vida.
Para além do brilhantismo da narrativa
ficcional que explora psicologicamente como
a fascinante Diana poderá ter feito uma das
decisões mais importantes da sua vida,
Spencer é um filme que em termos formais
e técnicos é inequivocamente formidável. É
de salientar, em especial, a contribuição do
compositor Jonny Greenwood (membro da banda
Radiohead e compositor regular dos filmes do
realizador Paul Thomas Anderson) que criou
uma banda sonora eclética e frenética que
mistura o género musical jazz e o género
clássico barroco, demonstrando o confronto
entre o espírito livre da Diana e a
austeridade do sistema monárquico,
resultando na criação de uma verdadeira
paisagem sonora que conta e caracteriza a
história musicalmente.
Em termos
visuais, Spencer tem uma tonalidade e
estética notavelmente meticulosa e onírica,
algo que reconhecemos visualmente como
antigo, mas não longínquo. Esta dimensão foi
alcançada através do uso de película de 16mm
para as filmagens e do olhar da diretora de
fotografia Claire Mathon (Portrait of a
Lady on Fire, Petite Maman).
Outra formalidade técnica que tem
obrigatoriamente de ser referida quando se
aborda Spencer é o desempenho da
atriz Kristen Stewart. Stewart adotou e
incorporou os maneirismos da Princesa de
Gales enquanto simultaneamente procurou não
ser uma imitação da pessoa, o que se provou
ser uma escolha adequada e humanizadora
tendo em conta o teor psicológico e
alucinogénio presente nesta fábula. Stewart
graciosamente encarna Diana e,
consequentemente, perde-se nela.
Spencer é, sem sombra de dúvidas, um dos
melhores filmes de 2021. É um filme
orgulhosamente diferente, característica
esta partilhada igualmente pela Diana
Spencer. Spencer estreou a 6 de
setembro no Festival de Veneza e chegou às
salas de cinema portuguesas a 4 de novembro.
E, certamente, terá uma receção positiva nos
circuitos de festivais e premiações que se
aproximam nos próximos meses.
Classificação: ★★★★★
Dune (2021)
- Partilhar 02/11/2021

O realizador
canadiano Denis Villeneuve regressou ao
grande ecrã com a adaptação cinematográfica
da obra literária de ficção-científica
Dune, da autoria de Frank Herber,
publicada em 1965. Denis Villeneuve é
reconhecido como um autor de renome no
género fílmico da ficção-científica sendo
que realizou anteriormente as aclamadas
produções Arrival (2016) e Blade
Runner 2049 (2017).
Dune
é o filme distópico futurista mais
antecipado do ano e estreou nas salas de
cinema portuguesas a 21 de outubro. Esta
adaptação de Dune conta com o ator
Timothée Chalamet no papel de Paul Atreides,
o protagonista, e ainda com os atores
Zendaya, Charlotte Rampling, Oscar Isaac,
Stellan Skarsgård, Javier Bardem e Jason
Mamoa.
O clássico literário de Herber
foi anteriormente adaptado para o grande
ecrã pelo realizador David Lynch em 1984,
porém o filme recebeu reações mistas de
críticos e público, sendo considerado
geralmente como uma adaptação fraca da
história original.
O mundo de Dune
é complexo, detalhado e inspirado por
diversas culturas e religiões (especialmente
pela cultura islâmica). Trata-se de um vasto
império galáctico dividido em domínios
feudais em que Casas governam não regiões,
mas sim planetas inteiros. Existem vários
conflitos pelo poder entre populações
nativas e colonizadores; entre líderes de
Casas, do governo imperial e as Bene
Gesserit (organização religiosa) e entre
crentes e não-crentes de mitos.
A
história de Dune centra-se em Paul
Atreides, um jovem dotado de vários
talentos, herdeiro da Casa Atreides, filho
de uma Bene Gesserit e designado como
Messias pela influência de figuras poderosas
encobertas por sombras e regras rígidas.
Após o Imperador atribuir à Casa Atreides o
planeta Arrakis, um planeta coberto pelo
deserto e pela matéria-prima mais cara do
universo por ser necessária para efetuar
viagens intergalácticas, o jovem Paul tem de
lutar pela sobrevivência da sua família e
desvendar o significado das premonições que
aparecem nos seus sonhos.
A versão de
Dune de Villeneuve é um filme de
proporções épicas que deslumbra com a escala
da ação e sucede na junção de efeitos
especiais de combates explosivos com a
beleza da magnitude árida do deserto da
Arrakis. É uma narrativa visualmente
estimulante intensificada pela banda sonora
do compositor Hans Zimmer.
O cuidado
estético, a mitologia estipulada e a
seriedade do dilema do protagonista de
Dune distinguem o filme de outras
produções de ficção-científica
contemporâneas de grande orçamento de
Hollywood, que dominam as bilheteiras com
histórias omnipresentes de super-heróis ou
sequelas repetitivas de franchises. Dune
é neste sentido uma lufada de ar fresco
necessária, uma alternativa ambiciosa e
revigorante, uma história sobre imperialismo
e subjugação, sobre crença e esperança. No
entanto, este é só o início da viagem de
Paul e, por essa razão, o final e deixa-nos
com uma sensação incompleta, porém
promissora, da história.
Felizmente,
a continuação, Dune – Part 2, já foi
confirmada após a grande afluência de
espetadores na semana de estreia de Dune.
A sequela irá chegar às salas de cinema em
2023.
Classificação: ★★★★
Noite na Terra (1991)
- Partilhar 01/10/2021

O filme “Noite na
Terra” de 1991 da autoria do realizador
americano Jim Jarmusch trata-se de uma
antologia de cinco comédias que ocorrem em
cidades diferentes na mesma noite e sempre
dentro de um táxi. Não se trata de um filme
com um início ou final particularmente
arrebatador, não aprendemos nenhuma lição,
não somos surpreendidos com nenhuma
reviravolta ou deslumbrados com uma
conclusão inesquecível. É apenas um momento
de partilha, um momento de comunhão, sem
inibições, durante a noite entre estranhos
que provavelmente nunca mais se irão
encontrar.
Começamos em Los
Angeles, com uma diretora de casting
glamorosa (Gena Rowlands) que tenta
convencer uma jovem rapariga taxista,
aspirante a mecânica, pouco sofisticada,
porém bastante romântica (Winona Ryder) a
aceitar o papel num filme, mas sem sucesso.
Seguimos para Nova Iorque, onde conhecemos o
estiloso jovem Yo-yo (Giancarlo Esposito),
natural de Brooklyn, que ensina o taxista
oriundo da Alemanha de Leste (Armin
Mueller-Stahl) como conduzir um carro, já
que a profissão anterior do velhote alemão
era ser palhaço de circo. De seguida,
atravessamos o Atlântico até Paris, onde um
taxista marfinense (Isaach De Banko), vítima
de comentários discriminatórios, coloca
perguntas discriminatórias e ignorantes à
sua cliente cega (Beatrice Dalle) que lhe
responde fervorosamente sem nenhum momento
de hesitação. Viajamos depois até Roma, onde
um taxista (Roberto Benigni) domina
completamente a conversa com o cliente, um
bispo, ao confessar os seus pecados carnais
numa corrente de descrições de atos sexuais
absurdos. Terminamos a coletânea de
histórias na cidade de Helsínquia, na qual
um taxista (Matti Pellonpää) leva a casa
três homens depois de uma noite a afogarem
as mágoas em álcool. Os homens acabam a
expor a tragédia sofrida pelo amigo apenas
para o taxista contar a sua própria
tragédia, uma perda tão grande, que coloca
numa nova perspetiva os problemas dos
fregueses.
O foco do filme
“Noite na Terra” é a universalidade. As
cidades existem como pano de fundo que
conferem o tom e possibilitam a transmissão
de localizações, culturas e línguas
diferentes, porém são nos apresentadas
conversas íntimas que conferem a sensação de
familiaridade. Grande porção do filme é
sempre passada no interior dos diferentes
táxis, o filme é acima de tudo um exercício
de escrita e um exercício de representação
uma vez que ao confinarmos personagens num
espaço físico será a arte do diálogo a
dominar a cena. Jim Jarmusch contrapõe
personagens extremamente diferentes e
explora como as dinâmicas fervem como quem
estuda a reação de químicos. Certas
histórias são mais engraçadas que outras,
umas mais lentas, outras mais tristes, e
outras de tal forma absurdas que parecem uma
anedota. Mas todas elas têm o toque
característico do autor Jim Jarmusch, um
toque específico de humor que recaí na
estranheza reconfortante.
“Noite na Terra”
não é um filme de voyeurismo, mas sim de
companheirismo no qual o espetador é um
passageiro invisível dentro do táxi, a
absorver histórias contadas por
intervenientes desinibidos no conforto da
noite.
“Noite na
Terra” encontra-se disponível para
visualização na plataforma de streaming
Filmin.
Classificação: ★★★★
Bem Bom (2021)
- Partilhar 05/08/2021
O filme biográfico “Bem
Bom” sobre a primeira girl band
portuguesa, as Doce, estreou nas salas de
cinema a 8 de julho. “Bem Bom”, da autoria
da realizadora Patrícia Sequeira, conta com
a atriz Bárbara Branco no papel de Fátima
Padinha, Carolina Carvalho como Lena Coelho,
Ana Marta Ferreira como Laura Diogo e Lia
Carvalho como Teresa Miguel.
O filme inicia-se em
1979, com a formação das Doce, e segue a
banda, na sua vida pública e privada, até à
participação no festival da Eurovisão em
1982. As Doce nasceram com o
intuito de revolucionar o panorama musical
de Portugal e serem um êxito imparável. O
sucesso da primeira girl band
portuguesa, e inclusive uma das primeiras
girl bands europeias, estava dependente
da harmonia entre as quatro mulheres do
grupo, mas uma harmonia que ia para além do
aspeto vocal já que o que torna as Doce
especiais é a fórmula aperfeiçoada e
sincronizada resultante de quatro partes
distintas. Cada Doce tinha uma função e
trazia um ingrediente diferente à banda.

Seguimos assim o início
complicado e agreste das Doce, marcado por
discussões entre as integrantes do grupo, os
produtores, a gravadora e o estilista. O
processo criativo foi turbulento, mas
bem-sucedido graças à vontade de singrar das
quatro cantoras. Êxito após êxito, desde o
primeiro single “Amanhã de Manhã”, as Doce
causaram furor e dominaram as vendas de
discos, mas, no entanto, perderam o Festival
da Canção, que era um dos principais
objetivos, consecutivamente. Somente em 1982
ganharam o Festival da Canção e garantiram
lugar na Eurovisão.
Mas “Bem Bom” é mais do
que uma história de sucesso com um percurso
atribulado, é um filme sobre a condição
feminina num período marcadamente machista,
uma época condicionada ainda pela falta de
liberdade e pelo tradicionalismo incutidos
no povo durante a ditadura. As Doce foram
mais do que uma novidade musical uma vez que
através da sua presença nos palcos foram, de
certa forma, uma revolução social ao serem
ousadas, provocantes e sensuais, algo que
era impensável naquela época para as
mulheres portuguesas. O filme aborda os
aspetos das vidas pessoais das integrantes:
os seus problemas familiares, românticos e
financeiros; temáticas tabus como o aborto
ou as polémicas sexuais alimentadas por
boatos que nasceram de preconceitos
machistas e racistas.
O filme biográfico
ficcionado das Doce é uma obra inegavelmente
agridoce que explora o lado negro da fama e
do reconhecimento nacional, que explora a
alegria e sofrimento vivenciados pelas
quatro mulheres que formaram um dos grupos
femininos musicais mais amados em Portugal.
A narrativa parece perder o ritmo de uma
forma insossa durante a segunda metade do
filme, mas antes do final regressa ao estado
energético e conciso inicial. Mas são as
dinâmicas das Doce que foram interpretadas
com habilidade, ferocidade e impetuosidade
pelas talentosas atrizes que são o ponto
forte desta produção cinematográfica. É
aliciante presenciar as Doce a interagirem
umas com as outras tanto na faceta pública a
atuar em palcos ou na faceta privada a
trabalhar no estúdio, a celebrar em bares ou
a conversar nos quartos durante as
digressões. Também a parte visual do filme é
aliciente, especialmente durante as atuações
das músicas, através da captura da
jovialidade, sensualidade e eletricidade das
jovens.
“Bem Bom” é uma produção cinematográfica nacional imperdível que celebra um dos grupos musicais com maior impacto na pop culture portuguesa. E, por sua vez, o documentário “Bem Bom – Realidade e Ficção” sobre a produção e objetivo do filme, disponível para visualização na RTP Play, é uma adição positiva e enriquecedora após visualização do filme.
Classificação: ★★★★
O Homem Que Vendeu a Sua Pele (2020)
- Partilhar 02/07/2021

“O Homem Que Vendeu a
Sua Pele” é um filme, inspirado numa
história verídica, realizado e escrito pela
cineasta tunisina Kaouther Ben Hania. O
filme esteve nomeado a Melhor Filme
Estrangeiro na última edição dos Óscares e
estreou nos cinemas portugueses a 24 de
junho.
“O Homem Que Vendeu a Sua pele”
conta a história de Sam Ali (Yahya Mahayni)
e de como este jovem sírio se tornou numa
obra de arte viva, num objeto vendível e
colecionável, de forma a escapar à guerra no
seu país e reunir-se novamente com a pessoa
que ama. Sam é um jovem sensível, impulsivo
e romântico, que é forçado a fugir do seu
país após ser aprisionado injustamente pelo
governo. Sam acaba a viver no Líbano onde
conhece o artista Jeffrey Godefroi (Koen De
Bouw) após ter sido apanhado a roubar comida
numa exposição de arte pela assistente de
Jeffrey, Soraya (Monica Belluci). Sam aceita
a proposta polêmica que Jeffrey lhe faz uma
vez que o jovem é movido pela falta de meios
e pelo desejo de voltar a ver sua namorada
Abeer (Dea Liane), que casou com um homem
que trabalha na embaixada síria na Bélgica
para fugir à guerra.
Sam vende as suas
costas a Jeffrey e transforma-se numa tela
humana para um dos artistas mais
controversos do Ocidente. Jeffrey tatua na
pele de Sam um visto, um comentário à falta
de direitos dos refugiados.
Consequentemente, Sam torna-se uma
mercadoria artística e obtém um visto que
lhe permite viajar pelo mundo e ser exposto
em galerias e museus.
Sam aceitou
tornar-se um objeto, um trabalho artístico,
porque só através deste pacto imoral e
desumano foi possível alcançar liberdade. Um
paradoxo trágico ao qual decidiu
submeter-se. Porém, ao iniciar a sua vida
enquanto obra de arte viva Sam percebe que o
contracto que assinou é tudo menos
liberdade.
Apesar das novas paisagens
europeias e dos confortos básicos
assegurados, o desespero volta a criar
raízes em Sam. O jovem começa a
desmoronar-se emocionalmente dentro das
paredes dos hotéis de luxo em que vive
devido a ser desfilado e exibido em museus e
ser controlado, cuidado e vendido como uma
mercadoria; devido à impossibilidade de
reunir-se com Abeer, o amor da sua vida; e
devido ao peso da culpa de ter fugido à
violência da guerra enquanto a sua família
vive essa violência diariamente.
“O Homem
Que Vendeu a Sua Pele” expõe através de uma
narrativa extremamente controversa e
invulgar os limites que pessoas ultrapassam
para escapar aos horrores da guerra e as
circunstâncias desumanas e dolorosas que são
capazes de enfrentar em nome da liberdade. É
um filme que expõe o desespero e tenacidade
humana dos refugiados e que igualmente
mostra a falta de empatia, humildade,
companheirismo daqueles que nunca viveram em
situação de guerra. É um filme que através
da formulação de um contracto absurdamente
não-convencional, em que um homem é tornado
mercadoria, obriga a refletir sobre o valor
da vida humana e sobre o que significa ser
livre.
A realizadora Kaouther Ben Hania
inspirou-se na história verídica do artista
belga Wim Delvoye que tatuou uma obra no
suiço Tim Steiner, que posteriormente vendeu
a um colecionador por 150 mil euros, para
escrever “O Homem Que Vendeu a Sua Pele”. A
realizadora tem uma preferência notável por
planos com enquadramentos dentro de
enquadramentos e planos com foco em
reflexões de espelhos que utiliza para criar
imagens de separação e alienação de forma a
relatar a história de Sam Ali.
O
desespero subsequente da falta de escolhas e
meios do protagonista é transversal a todos
os refugiados que arriscam as suas vidas na
tentativa de fugir às guerras que desolam os
seus países. Obras como “O Homem Que Vendeu
a Sua Pele” são filmes necessários uma vez
que abordam e incentivam a discussão sobre
esta crise humanitária que se vem alastrando
há vários anos e continua a roubar vidas, e
como tal, permanece um tema de extrema
importância.
Classificação: ★★★★
O Pai (2020)
- Partilhar 31/05/2021

“O Pai” é a primeira
longa-metragem realizada por Florian Zeller,
dramaturgo e escritor francês. Trata-se da adaptação para o grande ecrã da
peça de teatro homónima e é protagonizado
por Anthony Hopkins, uma das figuras mais
celebradas e galardoadas na arte da
representação. “O Pai” foi criticamente
aclamado desde a sua estreia e tornou
Anthony Hopkins a pessoa mais velha, aos 83
anos, a vencer um Óscar na categoria de
representação. O filme estreou nas salas
portuguesas a 6 de maio.
O filme segue a mente
em detioração do idoso Anthony (Anthony
Hopkins), que outrora fora um homem com uma
personalidade extremamente independente e
difícil, mas com um humor cortante e
inteligente. A sua filha Anne (Olivia
Colman) tenta contratar alguém para cuidar
do pai uma vez que ele não está apto para
viver sozinho, mas Anthony dificulta
ativamente o processo sabotando as
iniciativas de Anne ao aterrorizar a ajuda
que contratou. Anthony acredita-se capaz de
cuidar de si mesmo, não aceita a sua
condição e considera que a preocupação da
filha não tem fundamento. Mas a sua mente
atraiçoa-o e prega-lhe sustos cada vez mais
graves até o idoso começar a duvidar
daqueles que o rodeiam e da própria
realidade.
Outros grandes filmes
como “O meu nome é Alice” (2014) ou “Amor”
(2012) já abordaram a doença Alzheimer,
demência e envelhecimento, mas “O Pai”
acresce algo de novo já que a narrativa do
filme enfoca o ponto de vista do idoso em
vez de seguir a visão externa e objetiva da
progressão da condição do Anthony pelas
lentes dos familiares. Por outras palavras,
temos acesso à decadência mental e emocional
de Anthony segundo o relógio interno
desregulado do idoso, nós vemos como ele vê.
Primeiramente as mudanças são lentas, mas
progressivamente perdemo-nos com o idoso no
labirinto mental que se complica, sem norte
nem sul que o guie. A narrativa torna-se
ilógica, caótica e repetitiva, a linha do
que é real e irreal desvanece com a mente de
Anthony: objetos desaparecem, pessoas mudam
de aparência, conversas repetem-se. A noção
de espaço-tempo de Anthony desmorona-se
sendo que dias transformam-se em meses,
lugares transformam-se noutros lugares e
pessoas que já morreram há anos voltam à
vida na mente estilhaçada do idoso. É uma
prisão mental sem fim nem início,
demonstrada habilmente pelas escolhas
visuais e de cenário do autor, em que tudo
tem a mesma estrutura, as mesmas portas e os
mesmos corredores, apesar de serem lugares
diferentes em tempos diferentes.
“O Pai” é um filme angustiante que mostra sem inibições o interior de uma mente em deterioração no outono da vida e que não nos permite desviar o olhar do terror e confusão do envelhecimento ou da dor daqueles que nada podem fazer para ajudar. É um filme excelente, com argumento e realização exemplares, que conta ainda com um dos melhores desempenhos de Anthony Hopkins. É um filme difícil de se ver porque retrata uma realidade que a grande maioria das pessoas não quer ver por ser dolorosa e incurável, mas é a franqueza face à fragilidade e incapacidade da mente humana que torna “O Pai” um filme tão emocional e, consequentemente, necessário.
Classificação: ★★★★★
Sound of Metal (2019)
- Partilhar 03/05/2021

Sound of Metal
(título em português: O Som do Metal) é o
novo filme de Darius Marder protagonizado
pelo ator Riz Ahmed. O filme acumulou vários
prémios desde a sua estreia no Toronto
International Film Festival, culminando em
seis nomeações para os Óscares e sendo
galardoado com as estatuetas de ouro de
Melhor Montagem e de Melhor Som.
Sound of Metal
segue a mudança abrupta de 180º graus na
vida do baterista ex-toxicodependente Ruben
quando este perde a audição repentinamente.
Quando um médico o informa do seu estado,
ele julga ser o fim da sua vida e da sua
carreira. A namorada e vocalista Lou (Olivia
Cooke) interna o parceiro numa casa e
comunidade para surdos, para que este possa
ser ajudado a adaptar-se às suas novas
circunstâncias e evitar que tenha uma
recaída depois de quatro anos sóbrio. Ruben
inicia assim uma longa aprendizagem
amortecida pelo sentido de uma nova
comunidade e sensatez do mentor Joe (Paul
Raci). No entanto, uma inquietude permanece
em Ruben que anseia por recuperar a audição
através de implantes e reunir-se com a
namorada e retornar à vida que deixou para
trás.
A ânsia que governa
Ruben leva-o a fazer decisões extremas numa
tentativa frustrante para recuperar o que
não é recuperável, mas a escolha mais
difícil que terá de fazer será entre o seu
novo normal silencioso ou a vida cacofónica,
que outrora, fora a sua realidade.
Sound of Metal
é uma grande produção audiovisual com ênfase
no áudio, é uma longa-metragem imersiva que
faz uso do som para demonstrar a mudança
violenta que Ruben vivencia e para nos
colocar no lugar do jovem ao serem
realizadas frequentemente transições sonoras
entre o som ambiente e a experiência sonora
pessoal de Ruben: os sons abafados,
distorções, silvos e zumbidos agudos e, por
fim, o silêncio.
Música tem um
grande peso no que toca a criar o tom de uma
obra e despoletar emoção no espetador num
filme dramático, e por vezes, em certos
filmes, também o silêncio é utilizado para o
mesmo propósito.
Sound of Metal,
por sua vez, faz um uso arrebatador do
ruído, por exemplo, na cena de dueto de
piano quando a agradável e melódica voz de
Lou transforma-se num ruído distorcido agudo
e inteligível seguido por palmas distorcidas
impossíveis de suportar, esta é a realidade
de Ruben mesmo depois de todo o seu esforço
para conseguir voltar a ouvir com a ajuda
de implantes. O som da sua vida passada
nunca regressará.
O destaque deste
filme é, sem dúvida, a mistura e edição de
som, a
soundscape
construída que nos revela uma realidade nova
e merece todo o mérito que recebeu nos
últimos meses. Também o desempenho de Riz
Ahmed é de louvar sendo que Ruben é o moto,
sempre em movimento, do filme, um motor
turbulento, volátil, indefeso e sensível que
precisa de ser remendado.
O silêncio é
ensurdecedor para Ruben, é assustador e
alienante, mas é também reconfortante e
poderoso uma vez aceite.
Sound of Metal
é sobre a descoberta de um mundo novo, é
sobre a aceitação de uma realidade diferente
e a aceitação da quietude.
Sound of Metal encontra-se disponível para visualização no Prime Video.
Classificação: ★★★★
Se Esta Rua Falasse (2018)
- Partilhar 04/04/2021

O realizador Barry
Jenkins alcançou furor internacional com o
filme
Moonlight
(2016), uma história que tem início nos anos
80 e segue as vivências de um jovem
afro-americano gay e a discriminação de que
foi alvo até se tornar adulto.
Moonlight
valeu a Jenkins várias nomeações de prémios
incluindo os prestigiados Óscares para
Melhor Realizador, Melhor Argumento Adaptado
e Melhor Filme. Jenkins levou para casa as
estatuetas de ouro das últimas duas
categorias.
Não é um exagero
afirmar que
Moonlight é um
dos filmes que mais marcou a década de 2010.
Barry Jenkins sucedeu
Moonlight
com o filme Se
Esta Rua Falasse
(título original:
If Beale Street Could
Talk) que
estreou em 2018.
Se Esta Rua Falasse
é a terceira longa-metragem de Jenkins e
trata-se da adaptação do “romance-manifesto”
homónimo do romancista, poeta, dramaturgo,
crítico social e ativista James Baldwin.
Baldwin foi uma das vozes mais fortes na
defesa dos direitos dos afro-americanos e
homossexuais, tendo dedicado a sua vida e
obra à luta contra a discriminação social.
Se Esta Rua Falasse
conta a história de um casal que é
tragicamente separado devido a um sistema
preconceituoso. Tish (Kiki Layne) e Fonny
(Stephan James) conhecem-se desde crianças,
crescem juntos, aproximam-se e, por fim,
apaixonam-se, acontece de forma natural,
quase despercebida, como se simplesmente
estivesse predestinado. Planeiam um futuro
juntos com uma casa só deles e repleta com
as obras de Fonny, que sonha em ser
escultor. Mas este futuro é lhes roubado
quando Fonny é preso injustamente devido a
uma acusação de violação. Quando Tish
descobre que está grávida decide que tem de
encontrar um meio de provar a inocência de
Fonny e garantir a sua liberdade para que
ele possa ver o filho crescer, para que
possam ser uma família juntos. As famílias
do jovem casal embarcam então numa difícil e
extenuante jornada para provar a inocência
de Fonny, uma tarefa que, em última
instância, acaba por se provar impossível.
Fonny continua injustamente preso e é
engolido pelo sistema prisional e judicial
como tantos outros.
A história destes
jovens acontece na década de 70 em Beale
Street em New York, mas tanto poderia ter
acontecido em New Orleans, Louisiana ou em
Jackson, Mississippi. “Todos os negros da
América nasceram em Beale Street” é a
afirmação que inicia o filme. Intitular
Se Esta Rua
Falasse como
um “romance-manifesto” é a descrição que faz
mais justiça à história. É uma história de
amor entre dois jovens sonhadores, mas é
também um retrato fiel do preconceito que
existe desde do nascimento dos Estados
Unidos da América para com a comunidade
afro-americana. Preconceito este de tal
forma cravado nas fundações do país que para
além das ramificações vivenciadas
diariamente se traduz ainda num sistema
judicial injusto, discriminatório,
incompetente e violento.
Filmes que relatam
e atacam a temática do preconceito social
têm sido favoritos nos circuitos de
festivais nas últimas décadas como, por
exemplo, 12
Anos Escravo
(2013) ou
Green Book – Um Guia Para a Vida
(2018). Porém, as longa-metragens de Jenkins
diferenciam-se de filmes como os
referenciados anteriormente. Para além do
cunho de autor único de Jenkins, alcançado
através da construção de um estilo visual
distinguível e caracterizado pela ênfase em
cores ricas e quentes, a pouca profundidade
de campo e o posicionamento das faces dos
atores a centímetros da câmara que criam
planos profundamente íntimos, acresce ainda
a mestria do realizador na criação de
narrativas incrivelmente sensíveis,
ternurentas e vulneráveis. É esta ternura
que distingue os filmes de Barry Jenkins, é
a naturalidade e intimidade dos momentos
simples e felizes que em contraste com o
preconceito perpetuado incessantemente
tornam as histórias tão comoventes. Jenkins
dota os seus filmes de uma sensibilidade
única e tem, desta forma, vindo a
estabelecer-se como um dos cineastas
norte-americanos mais talentosos da sua
geração.
Se Esta Rua Falasse
esteve nomeado para três Óscares, mas venceu
apenas na categoria de Melhor Atriz
Secundária com a atriz Regina King no papel
de mãe de Tish. Para além da mestria
demonstrada por Jenkins no seu ofício é
importante ressaltar a qualidade dos
desempenhos do elenco principal e o
contributo essencial do compositor Nicholas
Britell, com quem Jenkins colaborou
previamente em
Moonlight
(2016), para o
sucesso do filme.
Se Esta Rua Falasse
é como uma canção de
blues,
é doce e amarga; é sensual, sensível e
violenta; é sobre a alegria do amor e a
tristeza, pautada por momentos fervorosos de
raiva, que um sistema impiedoso e cruel
inflige; é sobre escolher ter esperança
quando tudo o resto falha.
Se Esta Rua Falasse
continua a ser tão relevante hoje como foi
em 1974 quando James Baldwin escreveu a
história. Os tempos mudam, o sistema evoluí,
o preconceito assume novas formas e o mal
existente na sociedade continua a afetar
várias comunidades em diversas formas. São
histórias que são necessárias recordar e
discutir.
Se Esta Rua Falasse encontra-se disponível
para visualização no catálogo da Netflix até
dia 20 de abril.
Classificação: ★★★★★
Hiroshima, Meu Amor (1959)
- Partilhar 01/03/2021

Em 1959, após ter
dedicado uma década à realização de
documentários, o realizador Alain Resnais
apresentou a sua primeira longa-metragem,
Hiroshima, Meu
Amor. O filme
demarcou-se de imediato pela sua linguagem
visual poética e é até hoje um dos filmes
mais celebrados do cinema francês, um marco
da Nouvelle Vague e uma obra incontornável
no cinema de autor.
Hiroshima, Meu Amor
é o entrelaçar do
passado e do presente, de trauma pessoal e
de uma grande tragédia pública, é uma dança
entre memória e esquecimento. O encontro,
por sorte do acaso, entre uma atriz francesa
(Emmanuelle Riva), a trabalhar num filme
sobre Hiroshima no Japão, e um arquiteto
japonês (Eiji Okada), resulta num romance
breve, mas intenso, que serve como pano de
fundo para dialogar sobre o bombardeamento
de Hiroshima e as sequelas da guerra. Ambas
as partes estão casadas e a atriz irá voltar
para França dentro de um dia, ou seja, é um
amor condenado desde o início, mas o par
continua a encontrar-se uma vez que são
movidos pelo desejo mútuo de conhecerem-se
um ao outro e entenderem como se tornaram
nas pessoas que são.
Este desejo de
conhecer depressa transforma-se numa ocasião
para auto-examinar o passado e exorcizar
feridas profundas e escondidas. Desta forma,
Hiroshima, Meu
Amor
desdobra-se elegantemente numa estrutura de
flashbacks
inovativa. No
fundo, o filme é o desbravar da memória, é a
observação dos movimentos de um relógio de
areia. A estrutura narrativa flui suavemente
devido ao guião escrito pela romancista
Marguerite Duras, pelo qual recebeu uma
nomeação a Óscar para Melhor Argumento
Original, e pelo tom definido pelo olhar
sensível, íntimo e simbólico de Resnais, que
permeia todo o filme. Com este filme, Alain
Resnais ganhou o prémio de melhor filme do
Sindicato Francês de Críticos de Cinema, de
melhor filme estrangeiro do Círculo de
Críticos de Cinema de Nova Iorque e um
prémio da Academia Britânica de Cinema.
Hiroshima, Meu Amor
é simultaneamente uma história de amor e um
filme anti-guerra. A impossibilidade deste
relacionamento amoroso e o facto que nunca
mais se irão ver afeta ambos de forma
impiedosa e resulta consequentemente na
confissão de vivências, passadas durante a
guerra, nunca antes partilhadas. Estas
revelações e reflexões são feitas por entre
as ruas, cafés e hotéis de Hiroshima, e
desta forma, são interligadas com a
devastação causada pela bomba atómica. É um
filme poético sobre o tempo, o amor e a
guerra.
Hiroshima, Meu Amor
é sobre aceitar que o esquecimento face à
tragédia, que acontece aos poucos e poucos,
não só é inevitável como também é necessário
para conseguir prosseguir com a vida.
Hiroshima, Meu Amor
é um filme anti-bélico essencial sobre a
vida após a Segunda Guerra Mundial. É uma
obra-prima cinematográfica imperdível.
Hiroshima, Meu Amor encontra-se disponível
para streaming na plataforma Filmin.
Classificação: ★★★★★
Pieces of a Woman (2020)
- Partilhar 01/02/2021

Pieces of a Woman,
realizado por Kornél Mundruczó (Deus
Branco,
Johanna,
A Lua de
Júpiter),
estreou no 77º Festival de Veneza. Em
dezembro, o filme foi adicionado ao catálogo
da Netflix, sendo uma das estreias mais
antecipadas desse mês.
O filme conta com
Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Sarah Snook,
Ellen Burstyn e Benny Safdie no elenco.
Pieces
of a Woman
é um filme incontornavelmente pesado que
retrata as consequências da perda de um bebé
recém-nascido durante o parto e como esta
tragédia afeta uma família. Esta é uma
temática que raramente é o foco de um filme,
abortos espontâneos, nados-mortos e mortes
durante o parto são, por norma, uma
reviravolta e não o centro da narrativa.
Isto é compreensível uma vez que é
intimidante abordar e retratar a dor
indiscritível, e raramente discutida
publicamente, de perder um filho desta
forma, mas
Pieces of a Woman
enfrenta esta dor sem nunca fechar os olhos
à crueldade das sequelas.
O filme tem uma
duração de duas horas, mas o título só surge
30 minutos depois do início após um longo
plano-sequência, íntimo e vulnerável, do
parto extenuante que culminou na morte da
primeira filha de Martha (Kirby) e Sean
(Labeouf). Esta sequência é o ato mais forte
e exemplar do filme, sempre intensa,
oscilando entre ansiedade e esperança,
espelhando a intimidade e amor do casal e
terminando no desfecho mais temido. O resto
do filme consiste na junção de retalhos
focados na Martha demarcados por um vazio,
silêncio e distância palpáveis. Dias
tornam-se meses e acompanhamos Martha,
contida, letárgica e distante, no fundo,
emocionalmente fechada enquanto lida com as
pressões do companheiro, da mãe controladora
(Burstyn) e as atitudes intrusivas de
conhecidos. Martha quer prosseguir com a sua
vida, afastar-se da tragédia, e nesta
tentativa acaba por se afastar de toda a sua
família, tensões borbulham, desentendimentos
nascem e relações desmoronam-se
irreparavelmente. O companheiro e a mãe
pressionam Martha para tomar medidas legais,
e posteriormente, depor no julgamento da
parteira, mas ela demonstra-se reticente, e
por vezes, agressiva, perante a ideia.
A narrativa
construída através de retalhos, de várias
cenas durante vários meses, encapsula o
sentimento de isolamento e estagnação de
Martha causado pelo sofrimento e demonstra
os estilhaços da sua saúde mental. No
entanto, o ponto mais fraco do filme é
quando a manta de retalhos perde a força ao
focar-se em enredos secundários, insípidos e
por vezes desnecessários, de outras
personagens (como a traição de Sean)
comparativamente ao foco na Martha. Se esses
enredos secundários tivessem sido abordados
na mesma perspetiva de “show, don’t tell”
como foi o circo mediático do julgamento da
parteira através de pequenos, mas
inequívocos vislumbres, a narrativa teria
sido mais sólida. Por outro lado, o facto do
enredo decorrer durante o frio agreste do
outono e inverno num ambiente citadino ao
som da banda sonora, solene e melancólica,
da autoria de Howard Shore (Senhor
dos Anéis,
O Caso
Spotlight,
Seven – Sete
Pecados Mortais)
enaltece o tom da narrativa. Outro aspeto
louvável no filme são os desempenhos dos
atores, em especial de Vanessa Kirby com uma
atuação visceral, um verdadeiro
tour de force
da arte da representação. Este papel
valeu-lhe o prémio Volpi Upi de Melhor Atriz
no Festival de Veneza.
Pieces of a Woman
é a história de uma mulher fragmentada após
ter vivido o pior pesadelo de qualquer mãe e
sofrido uma perda inconsolável, é uma
história sobre dor e a catarse necessária
para conseguir voltar a viver. O processo
para superar a perda é longo, errático e
doloroso, mas é possível através da
aceitação. O cantor e poeta Leonard Cohen
disse “there is a crack in everything,
that’s how the light gets in”, o que
sintetiza sucintamente o processo de
cicatrizar. Martha nunca irá esquecer a dor,
mas não obstante, é possível seguir em
frente rumo a novos caminhos, novas
possibilidades. Afinal, o inverno é sempre
sucedido pela primavera e é nessa estação
frutuosa que encontramos a Martha, anos mais
tarde, num epílogo sereno.
Pieces of a Woman sobressaí pela sua qualidade destacando-se como uma das melhores adições ao catálogo da Netflix.
Classificação: ★★★★
Soul – Uma Aventura com Alma (2020)
- 02/01/2021

Depois de um
adiamento inicial devido à pandemia
Covid-19,
Soul – Uma Aventura
com Alma
trocou a estreia nas salas de cinema
portuguesas pela estreia exclusiva e direta
na plataforma de streaming Disney Plus no
dia 25 de dezembro.
A mais recente
adição ao catálogo cinematográfico dos
gigantes da animação, Pixar e Disney,
trata-se de uma história focada no género
musical
jazz
e na procura
do propósito para viver. Este é o primeiro
filme da Pixar protagonizado por um
afro-americano. O realizador de
Soul,
Pete Docter, é responsável pelas adoradas
obras de animação
Monstros e Companhia
(2001),
Divertida-mente
(2015) e Up –
Altamente
(2009), que foi galardoado com o Óscar de
Melhor Filme de Animação.
O filme segue Joe
Gardner, um professor de música apaixonado
por jazz, que após uma audição, finalmente
conseguiu atingir o seu sonho de tocar num
bar de Nova Iorque com uma banda talentosa.
Joe fica eufórico, é domado por uma
felicidade incontrolável. No entanto, não vê
o seu sonho realizado uma vez que acaba por
sofrer um acidente grave que o deixa à beira
da morte. A sua alma separa-se do seu corpo,
mas o músico recusa-se a morrer sem realizar
o seu propósito de vida. Começa aqui a
viagem de Joe e sua tentativa de escapar do
Grande Além. Joe acaba por tornar-se o
mentor de uma jovem alma reticente em
iniciar a sua vida, a número 22, no Grande
Antevida, o lugar onde as almas existem
antes de começarem a viver na Terra. O
músico aproveita esta oportunidade para
regressar ao seu corpo e tocar o concerto
mais importante da sua vida.
Soul
lembra o filme
Coco
(2017), também da autoria da Pixar e Disney,
uma vez que em ambos existe a temática
musical e a missão do protagonista consiste
em tentar regressar à vida. Mas as
semelhanças ficam por aí,
Soul
é inserido numa
cultura e vivência completamente diferente e
a sua mensagem não é focada na importância
da família e legado, mas sim no significado
e propósito de viver.
Através de viagens
espirituais por diferentes dimensões de
existência e aventuras pela cidade de Nova
Iorque marcadas por desentendimentos,
obstáculos e confusões caricatas as duas
personagens descobrem facetas da vida que
previamente tinham ignorado.
Soul
levanta aquela
derradeira e incontornável pergunta que
apoquenta tantas, mas tantas pessoas: “Qual
é o meu propósito de vida?”.
Soul
demonstra como a falta ou a obsessão por um
propósito destroem o espírito humano, como
as pessoas se perdem na procura por um
propósito, como paixões se tornam prisões.
Com o outono nova
iorquino como cenário e jazz a pautar a
história,
Soul
desmistifica como ter um propósito não é o
significado da vida. No fundo,
Soul
demonstra e ensina
que o significado da vida está no simples
ato de aproveitar a beleza de viver, a
companhia dos outros, as experiências e
sensações mais simples (tidas, tantas vezes,
como banais) e a natureza em si.
Soul
trata do tema que mais cativa e aterroriza a
humanidade, a grande incógnita que é o
propósito e significado da vida, de uma
forma divertida, leviana e ternurenta com
sequências ora mágicas, ora serenas. O
humor, tal como é habitual nos projetos da
Pixar, é um dos pontos fortes do filme.
Soul
é reconfortante, é o filme perfeito para um
serão em família no conforto do seu lar.
Soul está agora
disponível para streaming no Disney Plus.
Classificação: ★★★★
Mank (2020)
- 07/12/2020

O realizador David Fincher, um dos cineastas americanos mais aclamados da atualidade, reconhecido e celebrado por Seven (1995), Fight Club (1999), Zodiac (2007) e The Social Network (2010), regressa finalmente ao grande ecrã, seis anos após Gone Girl (2014), com o filme biográfico Mank. A adição mais recente à filmografia de Fincher estreou a 13 de novembro em algumas salas de cinema e a 4 de dezembro estreou globalmente na plataforma de streaming Netflix.
Mank não se trata somente da biografia de Herman J. Mankiewicz, argumentista e guionista de Citizen Kane, considerado por muitos cinéfilos como o melhor filme alguma vez realizado, como também é um retrato e crítica de Hollywood na década de 30 através dos olhos de Mank.
O actor Gary Oldman encarna Mankiewicz, conhecido e tratado por Mank, um dramaturgo e crítico do The New York Times tornado argumentista de cinema. O filme segue o processo de escrita do guião de Citizen Kane, escrito em 60 dias a pedido de Orson Wells (Tom Burke), enquanto em simultâneo, através de flashbacks, explora o início e final aparatoso da carreira profissional de Mank na indústria hollywoodiana nos anos trinta. Mank é um alcoólico, detentor de um sentido de humor astuto e de uma natureza extremamente opinativa. Estas qualidades, que outrora divertiam os outros, rapidamente se tornam defeitos quando Mank nada contra a corrente e cria tensões com indivíduos poderosos como William Hearst (Charles Dance), um magnata dos meios de comunicação, dono de um império de jornais e revistas, que serve de inspiração para a personagem de Kane. Hearst tem um relacionamento amoroso com a estrela Marion Davies (Amanda Seyfriend) que se torna amiga de Mank e é tida por muitos como a inspiração para a amante de Kane.
Mank no estilo e na essência, homenageia Citizen Kane criando paralelos com esse filme clássico. A obra de Fincher foi filmada inteiramente a preto e branco e a narrativa consiste numa mistura de vários flashbacks com o enredo principal. A cinematografia é marcada por algumas transições e planos wellsianos (pessoas aparentam ser bastante maiores em comparação a outras; a utilização da escuridão para esconder faces ao enaltecer sombras; etc.) e o filme é editado como as produções “hollywoodianas” da altura, desde os créditos introdutórios às cue marks (pequenas marcas no canto direito que serviam para sinalizar que o rolo de filme estava a terminar). Mank é pautado por uma soundtrack de jazz adequada à época e energia do filme e o elenco, na sua totalidade, têm desempenhos que fazem justiça ao argumento e estilo exemplar de Fincher. No entanto, em algumas ocasiões, o guião perde toda a sua força e agudez ao ponto de ser tornar insípido.
Ambos os filmes são sintetizados pela seguinte frase, proferida por Mank relativamente ao guião de Citizen Kane: “É impossível capturar a vida inteira de um homem em duas horas. Só se pode dar uma ideia dessa vida”. É neste aspecto que Fincher triunfa. Ele não se limita só a demonstrar o processo tumultuoso de escrita de Citizen Kane (dificultado pela recuperação de um acidente de carro e pelo alcoolismo de Mank) ou a luta entre em Wells e Mank para que o último seja creditado no filme. Fincher demonstra o carácter de Mank ao expor os seus valores, atitudes, qualidades e vícios enquanto contextualiza com o que o rodeia: o clima político da Califórnia (caracterizado pelo medo do socialismo); a influência, ganância e exuberância dos titãs dos meios de comunicação (dos grandes estúdios de filmes aos magnatas dos jornais); o processo de escrita e produção da indústria e o grupo social em que insere. É nesta exposição narrativa abrangente que apreendemos quem Mank era e como encarava o seu ambiente, e é aqui que residem as inspirações e razões por trás do guião de Citizen Kane.
Mank emerge assim
de 2020, um ano em que
streaming online
foi uma solução face aos problemas vividos
na indústria fílmica, como um dos filmes
mais memoráveis e imperdíveis
Classificação: ★★★★
On the Rocks (2020)

On the Rocks
assinala o regresso de Sofia Coppola ao
grande ecrã e a antecipada reunião da
realizadora com o ator Bill Murray, com quem
colabora pela terceira vez.
On the Rocks
é uma comédia e drama leve que segue a
história de Laura (Rashida Jones), uma jovem
mãe e escritora nova-iorquina, que começa a
suspeitar que o marido (Marlon Wayans) lhe é
infiel. Esta suspeita descontrola-se e ganha
forma quando o pai de Laura, Felix (Bill
Murray), um carismático e charmoso “old
school playboy”, a convence a seguir o
marido para descobrir a verdade.
Ao contrário de
filmes anteriores da realizadora, como em
Lost in
Translation,
Marie
Antoniette ou
Bling Ring,
em On the
Rocks a
personagem principal não é “atirada” para um
ambiente estrangeiro e diferente, sendo a
própria personagem, Laura, a tornar-se o
elemento externo no seu ambiente natural. O
filme inicia-se com o dia do casamento,
idílico e perfeito, distinguível pela
cinematografia comparável à usada nos
anúncios publicitários de perfume, e depois
avança alguns anos, para o quotidiano
familiar do casamento do qual nasceram duas
filhas. É neste contexto de
domesticidade segura, confortável e algo
estagnada, que surge espaço para dúvidas,
sobre o estado do casamento e sobre a sua
capacidade de escrever o livro que está a
desenvolver.
Lost In Translation
e On the Rocks
são as obras entre as quais se traçam várias
relações, e com razão. Separados por 17 anos
de diferença, em ambos os filmes existe uma
cidade, que é mais uma personagem do que
localização, que realça os dilemas dos
protagonistas, sendo no primeiro Tóquio e no
segundo Nova Iorque. Em ambos os filmes,
Bill Murray é um pai que falha aos filhos
por demasiadas vezes, é uma figura masculina
mais velha, bastante opinativo e engraçado,
e é um mentor para a jovem mulher com quem
interage. No entanto, Bob Haris em
Lost in Translation,
oferece bons conselhos e muda no final do
filme, tornando-se uma melhor pessoa, marido
e pai, já Felix em
On the Rocks
é o oposto, apesar das suas boas intenções.
O tom jovial marcado pela música new wave ou
post-punk em
Lost in Translation,
e nos restantes filmes, deu lugar a um tom
maduro e à música jazz em
On the Rocks.
A expressão “on
the rocks”, referente a bebidas alcoólicas,
traduz-se para “com gelo”, o que reflete, em
parte, a energia do filme: suave e maduro,
como gelo a derreter num copo de whisky.
Passado na cidade que nunca dorme, com
bares, restaurantes, apartamentos,
escritórios e ruas elegantes, não falta
estilo ao tom de
On the Rocks.
No entanto são as personagens principais, o
duo de pai e filha, que carecem dessa
qualidade. Laura, por ser afetada pelo tédio
da domesticidade e pelo bloqueio artístico,
e Felix, que apesar de ser um excêntrico
magnata do circuito artístico, é um fóssil
de um tempo passado com noções antiquadas,
especialmente no que toca ao sexo oposto. Na
falta de “coolness” do par reside a comédia
do filme, como a perseguição a alta
velocidade num carro clássico vermelho
descapotável (que quase vai abaixo devido à
idade) pelas ruas noturnas cheias de vida de
Nova Iorque como se fossem detetives, ou na
fuga de uma festa, em que se vê o par a
andar atrás muito devagar para não ser visto
pelos outros convidados.
A missão de
detetives dá pretexto para pai e filha
passarem mais tempo juntos, para dialogarem
por entre bebidas sobre a natureza do
matrimónio, monogamia e amor. Felix afirma
que Laura tem de pensar como um homem e
intensifica as dúvidas da filha sobre a
possível traição do marido, porque ele mesmo
cometeu infidelidades no passado.
Ambos falam e questionam com franqueza os
seus casamentos e famílias.
On the Rocks é
um filme curto. Os diálogos não são densos
nem melodramáticos, mas falta-lhe a
irreverência cortante característica dos
filmes da realizadora. É o filme com a
temática e personagens mais maduras de Sofia
Coppola. No fundo é um filme sobre
“assentar” e sobre o confronto e desconforto
do quotidiano familiar. No final, nenhuma
das personagens mudou, ou cresceu, não há
necessidade para tal, o que é necessário é a
reafirmação da normalidade. Coppola conclui
o filme como se terminasse de embrulhar um
presente e lhe colocasse o laço no topo com
um final previsível, agradável e
tranquilizante, e, por isso, pouco
memorável.
On The Rocks está agora disponível para
visualização na plataforma de streaming
AppleTV.
Classificação: ★★★
Tudo Acaba Agora (2020)

Tudo Acaba Agora
é uma das mais recentes, e uma das melhores,
produções cinematográficas da Netflix. O
filme, cujo título original é
I’m thinking of
Ending Things,
estreou a 4 de setembro na plataforma de
streaming e marcou o regresso do aclamado
argumentista e realizador Charlie Kaufman.
Kaufman é um dos artistas mais irreverentes
do cinema americano, tornou-se uma
figura-chave do cinema de culto ao escrever
os argumentos de
Queres Ser John
Malkovich?
(1999),
Inadaptado
(2002) e O
Despertar da Mente
(2004).
Tudo Acaba
Agora é o
terceiro filme realizado por Kaufman depois
de Sinédoque,
Nova Iorque
(2008) e
Anomalisa
(2015).
Tudo Acaba Agora
foi produzido, escrito e realizado por
Charlie Kaufman e é baseado na obra
literária homónima de Iain Reid. A narrativa
aparenta ser simples: uma jovem mulher
(Jessie Buckley) pondera acabar a relação
com o novo namorado, Jake (Jesse Plemons),
durante uma viagem até à quinta remota dos
pais dele – mas rapidamente torna-se claro
que nada é o que aparenta ser à superfície e
que há algo profundamente estranho e maligno
nesta viagem. A jovem, cujo nome nunca é
definido, tratada por Lucy, Lucia, Louisa e
até mesmo Ames, começa não só a questionar o
que julga conhecer sobre o namorado, mas
também sobre si mesma e o mundo.
A jovem mulher
pondera várias vezes ao longo do filme
durante o monólogo interior terminar a
relação com Jake, pois considera que o
relacionamento não tem futuro. A sua linha
de pensamento é constantemente interrompida
pelo namorado, que parece conseguir ouvir os
seus pensamentos, para discutirem poesia,
musicais, cinema, teorias sociais e
científicas. O diálogo é viciante e robusto,
levanta questões existenciais e
simultaneamente transborda com informação e
referências, e sempre dotado de uma
qualidade constrangedora e desconfortante
devido à falta de química propositada entre
o casal, que mesmo sentados lado a lado no
carro, têm entre eles um fosso abismal de
distância. Este constrangimento é enaltecido
pela escolha de proporção de tela 4:3 que
confere uma sensação de aprisionamento.
À medida que o
enredo principal avança, ao atravessar o
nevão que gradualmente se intensifica,
explorar a quinta sombria e conhecer os pais
bizarros de Jake, Kaufman intercala um
enredo secundário sobre a vida mundana de um
velho auxiliar de uma escola. Pessoas e
linhas temporais convergem neste filme
errático, estranho e surreal. O tecido do
tempo e da realidade é elástico e mutável
(durante o jantar os pais de Jake avançam e
regridem no tempo, ora jovens, ora idosos);
pessoas, vivências e infâncias tornam-se uma
amálgama compartilhada por um todo, por
Jake, pelo auxiliar, pela jovem mulher,
porque “Tudo é igual visto de perto (…) Tu,
eu, ideias. Somos todos uma coisa.”
Tudo Acaba
Agora é
sobre uma questão de perspetiva, não é um
filme literal, mas sim abstrato, em que o
tudo é tingido pelo que foi, o que é, o que
será, o que poderia ter sido e o que nunca
irá acontecer. É uma fantasia idealizada
criada pela necessidade, alimentada e
alicerçada por todos os tipos de media, de
conhecimento, de arte e de memórias porque,
no fundo, como a jovem mulher afirma: “Os
outros animais vivem no presente. Os humanos
não conseguem, por isso, inventaram a
esperança.”
Tudo Acaba Agora
é um filme pouco convencional, marcado
durante as 2 horas e 15 minutos de duração
por uma estranheza palpável que culmina num
ato final imprevisível. O filme explora o
âmago da psique humana, é um ensaio sobre
solidão, estagnação, passagem do tempo,
individualidade e a formação de carácter.
O diálogo e execução de Kaufman é cortante e
memorável, alcançado com os desempenhos
cruciais do pequeno, mas talentoso elenco,
que conta com Jessie Buckley e Jesse Plemons
como personagens principais e David Thewlis
e Toni Colette como pai e mãe
respetivamente.
O novo filme de
Kaufman é o melhor trabalho do cineasta,
provou-se igualmente o melhor filme de 2020
até à data. Da mesma forma que arte abstrata
não agrada a todos o mesmo acontece com este
filme, mas quem acompanhar esta viagem com
certeza sentir-se-á recompensado no final
uma vez que
Tudo Acaba Agora
é um dos filmes mais interessantes do ano,
que levanta perguntas e inicia discussões.
Tenet (2020)

Depois de vários
adiamentos devido à pandemia Covid-19, o
filme mais antecipado do ano,
Tenet
do realizador Christopher Nolan, finalmente
estreou em 70 países, incluindo Portugal, a
26 de agosto. Nolan regressa ao grande ecrã
e debruça-se novamente sobre o seu conceito
favorito, o tempo, tal como fez previamente
com Memento
(2000),
Inception
(2010) e
Interstellar
(2014).
A nova adição à
filmografia de Nolan
é um
thriller
de ficção-científica e ação que envolve o
mundo da espionagem internacional e segue o
Protagonista, um agente da CIA que é
recrutado por uma organização secreta
intitulada Tenet, encarregado com a missão
de impedir que a Terceira Guerra Mundial
aconteça e armado apenas com a palavra
Tenet. A Terceira Guerra Mundial será
causada por pessoas no futuro que desejam
destruir o passado e desta forma impedir a
extinção da humanidade no futuro, ou seja, é
uma tentativa desesperada de apagar os erros
cometidos no passado. Andrei Sator é o
contacto entre o presente e o futuro e para
o parar e salvar o mundo o Protagonista
utiliza a inversão do tempo, uma manobra
desenvolvida no futuro e enviada para o
passado, que consiste em inverter o fluxo de
entropia de um objeto ou pessoa e
consequentemente inverter o fluxo do tempo.
Em
Tenet,
Nolan desconstrói e desdobra o tempo,
apresentando a ideia de que o tempo não é
linear, mas sim circular e sobreposto, em
que várias realidades existem
simultaneamente no mesmo plano. Os mesmos
objetos ou pessoas, ou melhor, as várias
versões dos mesmos objetos ou pessoas,
coexistem e por vezes cruzam-se, no mesmo
plano de existência ora movendo-se para a
frente ou para atrás através da inversão do
tempo.
Tenet é um
filme de espionagem centrado à volta de
teorias e paradoxos temporais. É o filme
mais ambicioso e complexo de Nolan, é um
verdadeiro quebra-cabeças desafiante que
exige toda a atenção da audiência e requere
uma reflexão profunda. Em termos técnicos
destaca-se a cinematografia de Hoyte van
Hoytema que proporciona um grandioso
espetáculo visual com sequências de ação
inovadoras e a banda sonora composta por
Ludwig Göransson. O elenco é um componente
fulcral para o sucesso de
Tenet
onde se destacam os desempenhos de John
David Washington (o Protagonista), Robert
Pattinson (Neil) e Elizabeth Debicki (Kat).
Tenet é um bom
filme, mas não é uma obra-prima apesar de
todas as suas qualidades positivas. O ritmo
acelerado da narrativa e o constante
bombardeamento de novas informações e
detalhes dificultam o seguimento e
compreensão do enredo. A mistura do som é
desagradável já que por vezes os efeitos
sonoros sobrepõem-se ao diálogo das
personagens tornando-se difícil discernir as
falas. No fundo, a sobre-exposição constante
de informação torna-se cansativa. Por outro
lado, algumas das personagens, com exceção
de Kat, são emocionalmente rasas e poderiam
e deveriam ter sido mais exploradas nesse
sentido.
Tenet é sem dúvida o filme mais ambicioso de Christopher Nolan, mas está longe de ser um dos melhores filmes do realizador, como Memento (2000) ou Dunkirk (2017), porque carece de elegância, poder imersivo e densidade emocional na narrativa. No entanto, é um filme único e imperdível, um puzzle temporal visualmente deslumbrante, que deve ser apreciado no grande ecrã.
Palm Springs (2020)

O filme
norte-americano
Palm Springs
estreou na plataforma de
streaming
Hulu a 10 de julho e é um dos melhores
filmes de 2020 até à data. É uma comédia
romântica com elementos de ficção-científica
que revitaliza e aperfeiçoa a fórmula do
time loop
(um ciclo de tempo interminável e
inescapável que repete sempre o mesmo dia)
popularizada com o filme
O Feitiço do Tempo
(1994).
Palm Springs,
escrito por Andy Siara, é a primeira
longa-metragem do realizador Max Barbakow e
é protagonizado pelos atores Andy Samberg e
Christin Milioti.
O enredo passa-se
em Palm Springs, durante a celebração de um
casamento, e segue a vida de Nyles (Andy
Samberg) que está condenado a viver
eternamente o mesmo dia. Não existe nenhum
amanhã, existe somente o hoje que se repete
dia após dia num ciclo infinito. Até que
Sarah (Christin Milioti), a irmã da noiva e
dama de honor, fica aprisionada no
time loop.
Os dois estão agora presos no mesmo dia, no
mesmo local e incapacitados de fugirem de si
mesmos ou um do outro.
O que distingue
Palm Springs
do famoso O
Feitiço do Tempo
(1994) e dos consequentes filmes que
seguiram o conceito do
time loop
como, por exemplo, o filme de terror
Feliz Dia Para Morrer
(2017) ou o
filme de ação
No Limite do Amanhã
(2014) é uma mudança simples mas crucial: em
vez de somente uma pessoa experienciar o
mesmo dia infinitamente serão duas pessoas a
experienciar o mesmo purgatório.
Palm Springs é
um filme refrescante devido ao argumento
inovador, sólido e divertido de Andy Siara
que o realizador Max Barbakow capturou num
ritmo rápido e com um tom colorido e leve.
As duas personagens principais foram
profundamente desenvolvidas ao longo de toda
a duração do filme, com personalidades em
que as motivações, medos e falhas brilham,
algo que é raro em comédias românticas. A
dinâmica e química que a dupla romântica
demonstra enquanto navegam pela absurdidade
de um time
loop é
intoxicante. A realidade desprovida de
sentido e significado, em que se está preso
no mesmo dia e mesmo lugar sem qualquer
escapatória, e como tal não existe
consequências pelas ações tomadas levanta
questões existencialistas importantes:
resignação total face à situação, aceitar o
limbo e encontrar desta forma alguma paz ou
procurar lutar e consequentemente lidar com
as consequências dolorosas do possível
amanhã? Permanecer no conhecido estagnado ou
arriscar o desconhecido repleto de
incertezas? Alimentar uma fachada segura e
distante ou ter confiança e apostar num
relacionamento romântico duradouro?
Palm Springs é um filme divertido e surpreendentemente profundo, sem nunca se tornar pesado, que aborda temas existencialistas, conexões humanas e o fardo das consequências através de personagens bem-escritas e humor divertido. Palm Springs não só é um dos melhores filmes de 2020 como também é uma das melhores comédias românticas dos últimos anos e o melhor filme sobre um time loop.
Honey Boy (2019)

Honey Boy é
uma produção norte-americana que estreou em
2019 no Sundance Film Festival. O filme foi
realizado por Alma Har'el e escrito pelo
ator Shia Labeouf.
Honey Boy
é um filme semiautobiográfico, uma história
fictícia inspirada pela infância de Labeouf
e o subsequente internamento para curar a
dependência alcoólica em adulto.
Honey Boy
acompanha o ator Otis em duas alturas
cruciais da sua vida: aos 12 anos,
representado por Noah Jupe, quando se estava
a estabelecer como ator enquanto lidava com
o relacionamento tóxico que tinha com o pai,
e aos 22 anos, representado por Lucas Hedge,
quando é internado para reabilitação e
diagnosticado com Stress Pós-Traumático.
Para Otis vencer o alcoolismo e tratar os
problemas psicológicos e emocionais é
necessário fazer terapia e confrontar a
origem da sua dor: o seu pai. Shia Labeouf
representou o próprio pai, James, um
veterano da Guerra do Vietname, criminoso
com um passado de abuso de substâncias que
trabalhou em circos.
Shia Labeouf
escreveu grande parte do guião do filme
durante o seu internamento para reabilitação
da dependência alcoólica, em que teve de
escrever sobre os momentos mais negros da
sua vida. O filme
Honey Boy
é como uma sessão de terapia pública que
reconta e expõe trauma para poder
cicatrizar, em que dor é transformada em
arte. O filme traça relações de causa-efeito
ao descortinar as razões do sofrimento de
Otis durante as sessões de terapia.
A realizadora Alma
Har’el guia o filme através do uso
recorrente de paralelismos entre o Otis em
criança e adulto. Estes paralelos narrativos
são normalmente puramente visuais, em que as
situações são as mesmas, mas as
circunstâncias diferentes. Como por exemplo,
o Otis ser alçado com cordas e puxado para
trás num set
de um estúdio
em criança e adulto ou o Otis a gritar de
raiva, contorcido sobre si mesmo, em adulto
ou a gritar com os braços no ar e cabeça
erguida, com a vida toda pela frente, em
criança.
Honey Boy é
profundamente
pessoal e intrinsecamente honesto, é um
filme catártico tingido por uma nudez
emocional. Estas qualidades são
especialmente notáveis no guião de Labeouf e
no seu desempenho a representar o pai, mas
também nos dois atores que representam Otis.
São estas características que tornam
Honey Boy
tão especial e empático, em que não se julga
as personagens, mas há sim uma tentativa
para entendê-las. O pai, apesar de todo o
sofrimento que causou e de todas as falhas
que tem, não é um vilão nem um monstro. É
apenas um homem com vários problemas, capaz
de proporcionar tanto momentos de felicidade
ou dor ao filho. E o filho nada mais deseja
do que ser amado e entendido pelo pai.
Honey Boy é sobre sarar feridas profundas infligidas pela família, é sobre um filho reconciliar-se com o pai, com a dor que este lhe causou e com o amor inerente que sente pelo mesmo. É sobre aceitar que dor e amor coexistem por mais paradoxal e tortuoso que esta noção seja. É um filme semiautobiográfico, mas o seu tema é universal: trauma geracional, um ciclo de dor que passa de pai para filho. Honey Boy é sobre quebrar esse ciclo.
Cléo de 5 à 7

Cléo de 5 à 7
(título
português:
Duas Horas na Vida de Uma Mulher)
é um filme francês de 1962 realizado e
escrito por Agnès Varda. Varda foi uma
figura marcante da
Nouvelle Vague
e uma das
realizadoras mais importantes do cinema do
século XX, sendo uma das vozes femininas
mais influentes na Sétima Arte.
Cléo de 5 à 7
é a segunda
longa-metragem que realizada por Varda e
segue a vida de Cléo, uma jovem cantora de
música pop, enquanto espera ansiosamente
pelo resultado de um exame médico. O filme
tem uma duração de 90 minutos e a narrativa
decorre em tempo real, iniciando-se às 17
horas e concluindo às 18 horas e 30 minutos.
Filmado inteiramente a preto e branco (com
a exceção do genérico que consiste numa cena
de leitura do tarot) e com uma montagem
fluída e precisa, Varda emprega um realismo
elegante ao capturar Paris dos anos 60 e a
jornada emocional da protagonista.
Acompanhamos o
quotidiano de Cléo que foi obscurecido pelo
medo da morte enquanto a jovem se tenta
distrair: desde as viagens de táxis às idas
a cafés, das conversas com amigos às reações
a estranhos, dos ensaios de música às
deambulações por parques. Varga utiliza
estas situações mundanas do dia-a-dia para
explorar o mundo interior da personagem.
Cléo de
5 à 7 é
um olhar íntimo sobre a vida de uma mulher,
sobre as preocupações com a carreira (desejo
por sucesso e reconhecimento do seu
talento), sobre as preocupações relativas à
vida amorosa (o seu companheiro é um homem
bem-sucedido mas não lhe dá atenção). A Cléo
é retratada com honestidade e fragilidade: é
mimada, vaidosa, supersticiosa e exagerada,
no entanto, ela é consciente destas falhas,
o que gera empatia para com a personagem.
A sombra da morte
paira sobre Cléo, infligindo-a com ansiedade
e acuidade sobre o que a rodeia. Quando Cléo
conhece, por sorte do acaso, Antoine, um
soldado que partirá em breve para a Guerra
da Argélia, floresce entre os dois um
sentimento de pertença e compreensão. Na
reta final do filme, e apesar da incerteza
do futuro, a ansiedade de Cléo finalmente
dissipa-se e dá lugar a esperança e
felicidade. A Cléo emerge desta experiência
uma pessoa mudada.
Apesar da premissa
fatalista, o filme é uma mescla espirituosa
entre melodrama e humor, sendo marcado por
jovialidade e leveza. Destaca-se as
cameos
divertidas de Jean-Luc Godard e Anna Karina,
a banda sonora de Michel Legrand, a edição
experimental com sequências poéticas e a
cinematografia harmoniosa. O movimento de
câmara é marcado por uma leveza exemplar ao
deslizar por entre cafés e ruas repletas de
pessoas, ao capturar introspetivamente a
sentimentalidade de Cléo quando canta,
passeia sozinha no parque ou cria laços com
Antoine.
Ao longo de
Cléo de 5 à 7,
acompanhamos as oscilações entre pavor e
esperança da Cléo, como a ameaça da morte
influencia como interage com o que a rodeia.
Desta forma,
Cléo de 5 à 7
aborda o tempo, a mortalidade e o ponto de
vista feminino. É um filme
existencialista e poético, que por ser
dotado de naturalidade e sensibilidade não
cai no pretensiosismo.
Cléo de 5 à 7 é um dos melhores filmes de Agnès Varda e uma obra imperdível da Nouvelle Vague. Quase sessenta anos depois da sua estreia o filme continua a ser refrescante e moderno devido ao seu conteúdo e estilo.
“Ensaio sobre a Cegueira” (2008)

Nas últimas
décadas parece que o interesse por filmes
sobre epidemias e cenários pós-apocalípticos
aumentou. Existe um variado leque de
escolhas desde filmes sobre
zombies
de drama como
28 Days Later (2002) ou
de comédia como
Shaun of the Dead
(2004) até filmes sobre vírus
assustadoramente reminiscentes do Covid-19
como Contagion
(2011). Devido à
grande quantidade de filmes deste género há
sempre obras fílmicas que não têm tanta
atenção no panorama audiovisual como
deveriam ter, como é o caso de
Ensaio
Sobre a Cegueira
(2008), a versão
cinematográfica da renomada obra literária
homónima de José Saramago, adaptada para o
grande ecrã por Fernando Meirelles, o
aclamado realizador de
Cidade de Deus
(2002). O filme é uma co-produção entre o
Canadá, Japão e Brasil sendo falado
maioritariamente em inglês e em algum
japonês. O elenco principal é constituído
por Julianne Moore, Mark Ruffalo, Alice
Braga, Gael García Bernal, Danny Glover,
Yusuke Iseya e Yoshino Kimura.
A história de
Ensaio Sobre a Cegueira inicia-se com um
homem que sem aviso nem explicação, e no
meio do trânsito, fica cego e a sua visão é
mergulhada num mar branco. A cidade depressa
é afetada por esta estranha epidemia de
cegueira branca que se alastra pela
população. O governo declara quarenta
obrigatória e os primeiros infetados são
aprisionados num hospital. Nos dias
seguintes, mais afetados chegam e as alas do
hospital ficam sobrelotadas. Aqueles que não
estão afetados temem a cegueira branca como
se fosse uma praga, evitando os cegos e
exercendo força para os manter isolados.
As personagens em
que a narrativa se foca são da ala 1: o
Primeiro Cego, a Mulher do Primeiro Cego, o
Médico, a Mulher do Médico, a Mulher dos
Óculos Escuros, o Ladrão, o Menino e o Velho
da Venda Preta. Tal como na obra original,
não são utilizados nomes para as personagens
e a ação não se passa em nenhum país
reconhecível, uma vez que o foco da história
não é em localizações ou pessoas
específicas, mas sim na humanidade.
Desorientados com
a cegueira branca e sob a ameaça de serem
mortos a tiro por militares se tentarem sair
das instalações, sem racionamentos de comida
suficientes nem qualquer ajuda externa, o
hospital rapidamente é engolido pela
desordem. Lutas por poder instalam-se apesar
dos esforços do Médico de organizar
democraticamente as alas e da Mulher do
Médico de ajudar e guiar os cegos sem
revelar que consegue ver, já que ela mentiu
sobre ser cega para poder acompanhar o
marido. O lado mais vil e cruel da natureza
humana emerge quando os mais fortes usam a
força e o monopólio dos mantimentos
alimentares para subjugar os mais fracos, o
caos governa o hospital e semeia humilhação,
violência e mortes.
A Mulher do
Médico, a única pessoa que inexplicavelmente
não foi afetada pela cegueira, é quem os
liberta do inferno do hospital e abre os
portões após os militares terem abandonado
as instalações. É ela quem guia o seu
pequeno grupo pela sociedade destabilizada e
em direção a um refúgio longe dos cruéis
instintos primitivos do Homem.
O verdadeiro
horror de
Ensaio Sobre a Cegueira não
é a misteriosa epidemia que roubou a visão à
humanidade, mas sim a complexa natureza
humana no seu pior momento, entranhada de
uma crueldade adormecida que brotou atos
atrozes, mas também de uma necessidade e
procura vital por empatia. A natureza humana
é confusa, e de certa forma inexplicável, é
uma amálgama de contradições, tanto capaz de
praticar o bem como o mal, tal como Saramago
diz, no livro através da voz da Mulher de
Óculos Escuros e no filme através da voz do
Velho da Venda Preta: “Dentro de nós há uma
coisa que não tem nome, essa coisa é o que
somos”.
Ensaio Sobre a
Cegueira é uma boa
adaptação de uma obra literária de
excelência. Ficou aquém do original, mas tal
facto é esperado, já que cinema e literatura
são meios de comunicação com complexidades
muito distintas. Meirelles não transpôs toda
a riqueza do original, mas foi fiel à
narrativa original e capturou a sua essência
com naturalidade. O tom e estética do filme
destacam-se em especial com o uso e
manipulação de luz, cores e composições
pictóricas engenhosas e experimentais. Os
brancos dominantes, ofuscantes e desfocados
dos planos em conjunto com transições
inteligentes e precisas transmitem de uma
forma imersiva como a cegueira branca é. Por
sua vez, os desempenhos do elenco foram
razoáveis com a exceção de Julianne Moore,
que interpretou a Mulher do Médico, que
demonstrou uma acuidade emocional
impressionante.
“Mãe e filha. Que mistura terrível de sentimentos, confusão e destruição”: Sonata de Outono

Sonata de
Outono (título original:
Höstsonaten) é um filme sueco de 1978
realizado e escrito por Ingmar Bergman, um
dos autores mais importantes do cinema
europeu e um dos grandes mestres da Sétima
Arte.
O filme é um
drama que se foca em duas personagens
femininas e na sua relação de mãe-filha.
Charlotte Andergast, uma pianista
bem-sucedida, depois de perder o companheiro
Leonardo, reencontra-se pela primeira vez em
sete anos com a filha, Eva, quando esta lhe
escreve a pedir que a visite durante alguns
dias. Eva está casada com um clérigo e vive
numa pequena cidade. As duas mulheres têm
uma relação complicada que se torna ainda
mais tensa quando Charlotte descobre que a
sua outra filha Helena, que sofre de uma
doença terminal que a deixou paralisada e
incapaz de falar, foi retirada da
instituição e vive agora com Eva. O
reencontro desencadeia um confronto entre
Charlotte e Eva.
Ingmar Bergman
disseca a relação entre as duas personagens
ao abrir feridas do passado e expô-las pela
primeira vez numa discussão longa e
dolorosa. Charlotte desprezou o papel de mãe
para se focar na carreira de pianista e Eva
cresceu sem conhecer carinho, conhecendo
apenas o controlo em forma de críticas da
mãe, o que incutiu na jovem um sentimento de
fraqueza e impotência desde cedo, e Eva
despreza a mãe por não conseguir lidar com a
situação de Helena. Ambas são marcadas
pela falta de afeto e pelo desejo do mesmo,
a herdança de mãe para filha é a dor.
O passado
condiciona o presente de Eva e Charlotte
desde os seus relacionamentos às suas
personalidades. Em
Sonata de Outono,
os planos gerais são compostos como quadros
clássicos e a iluminação é pálida o que
confere uma sensação de longinquidade e
alienação. Estes planos são sempre usados
quando Eva recorda o passado, a captação
pitoresca ressalta como o passado aprisiona,
mas ao mesmo tempo é intocável, como um
sonho distante. Quando estes planos
são usados no presente é como se as
personagens, por vezes, desvanecessem no
meio em que se encontram.
Sonata de
Outono é um escrutínio
angustiante da relação repleta de
incongruências de amor e ódio, desejo e
repúdio que existe entre Eva e Charlotte. A
forma como ambas são capturadas é quase
cruel, Ingmar Bergman não nos permite
desviar o olhar da fealdade que decorre ao
usar grandes planos fechados, com a câmara a
centímetros das faces das atrizes, durante
os momentos de confronto, em que a raiva
outrora adormecida explode.
A intensidade e
honestidade emocional de
Sonata de Outono
recai não só na direção precisa de Ingmar
Bergman, mas também nas atuações das
conceituadas atrizes Liv Ullmann e Ingrid
Bergman nos papeis de Eva e Charlotte,
respetivamente.
Tal como o título
indica, o filme é pautado por uma banda
sonora exemplar, escolhida a dedo para as
tonalidades emocionais certas, composta por
peças de Händel, Chopin e Bach.
Sonata de Outono termina com um retorno ao início, com Eva a escrever uma carta para a mãe após esta partir abruptamente depois de terminarem a discussão, e num tom ambivalente, marcado por esperança e desilusão, nascido do confronto que era há muito necessário nesta relação conflituosa entre mãe e filha.
“Eu sou grande! Os filmes é que ficaram pequenos”: Sunset Boulevard

“Sunset Boulevard”, cujo título em português é “O Crepúsculo dos Deuses “, é um filme de 1950 da autoria do realizador Billy Wilder, é um dos grandes clássicos do cinema americano e uma das obras fílmicas noir mais aclamadas. “Sunset Boulevard” é uma reflexão sobre a indústria do cinema, a sede pela fama e a incapacidade de encarar a realidade, no fundo, o filme é um pesadelo hollywoodesco.
Um grande filme é o culminar de vários fatores e decisões artísticas, mas a história é a essência da obra. “Sunset Boulevard” foi escrito por Billy Wilder, Charles Brackett e D.M Marshman Jr. e é considerado por muitos uma das melhores narrativas que nasceu de Hollywood, é uma história inesquecível com diálogo cortante. O filme é sobre a relação perigosa que se desenvolve entre o argumentista fracassado e endividado Joe Gillis e Norma Desmond, uma estrela do cinema mudo que caiu no esquecimento e na ilusão de magnificência.
“Sunset Boulevard” é marcado por um tom sombrio e fatalista, inicia-se com o assassínio de Joe Gillis e é narrado pelo mesmo, que retrocede no tempo para mostrar como chegou àquele fim. É uma reflexão sobre a indústria implacável de Hollywood e sobre todos os que a compõe desde os argumentistas aos atores, dos fãs aos jornalistas, e uma critica ao Star System, ao processo criativo e ao estado da indústria.
É um comentário ao papel do argumentista, que é muitas vezes esquecido pela audiência, e que se tem de submeter ao modelo dos estúdios que procuram apenas o lucro, prescindindo assim da originalidade e liberdade artística. Joe Gillis é um homem cínico e procura apenas sobreviver através da sua escrita, no entanto, ele muda quando conhece a jovem Betty Schaefer, uma aspirante a argumentista cheia de paixão que se foca na mensagem e honestidade necessária para criar uma boa história e não nas exigências dos estúdios. Betty e Joe são duas faces da mesma moeda, são as duas fases dos argumentistas face à máquina de Hollywood.
“Sunset Boulevard” é uma obra que mostra o lado negro da fama e como esta destrói artistas. Norma Desmond foi esquecida pelo mundo e vive sozinha na sua grande mansão, repleta de fotos de quando era jovem e outros artefactos dos seus tempos de glória, acompanhada apenas pelo seu mordomo Max, que é posteriormente revelado ser o realizador que a tornou famosa. Esta é uma mulher de meia-idade presa ao passado e incapaz de enfrentar o presente, obcecada com preservar a sua beleza e reprimir o envelhecimento, é uma megalomaníaca consumida por ilusões de grandeza que acredita no seu regresso ao grande ecrã, algo que nunca irá acontecer. Norma Desmond é interpretada por Gloria Swanson, que foi uma grande estrela do cinema mudo e regressou ao grande ecrã para este papel. A interpretação de Swanson é imbatível e solidificou Norma Desmond como uma personagem icónica, a sua expressividade facial e corporal e a loucura no seu olhar são assombrosas, são características únicas pertencentes a uma verdadeira estrela do cinema mudo.
Para além de Swanson o elenco é também composto por figuras do cinema mudo como o realizador Cecil B. DeMille que se interpreta a si mesmo no filme, Erich von Stroheim que interpreta o mordomo Max e H.B Warner, Buster Keaton e Anna Q. Nilsson que fazem aparições como os velhos contemporâneos da Norma Desmond. Os atores William Holden e Nancy Olson que interpretam Joe Gills e Betty Schaefer respetivamente têm desempenhos naturais que são perfeitos em oposição aos maneirismos dramáticos de Norma Desmond.
A cinematografia convenciona o tom sombrio da narrativa enquanto simultaneamente captura a riqueza e ostentação ofuscante a que Norma Desmond desesperadamente se agarra.
“Sunset Boulevard” é um filme sobre os artistas no grande ecrã e atrás das câmaras. É um olhar cru e critico sobre a indústria de Hollywood que engole e cospe pessoas, descartando-as. É um filme que nos compele do início ao fim, e que tem uma das sequências finais mais fortes do cinema com Norma Demonds a ser devorada pela loucura e pela ilusão de fama que fabricou, ela vive apenas para a glória das câmaras. “Sunset Boulevard” obriga a encarar a realidade e relembra que o motor para fazer cinema deve ser a devoção à arte de criar boas histórias e não à fama.
O triunfo técnico e artístico de “1917”

O épico de guerra “1917” do realizador Sam Mendes foi inspirado pelas histórias da Primeira Guerra Mundial que o avô lhe contara. O filme tem sido criticamente aclamado. Mendes foi eleito melhor realizador nos prémios do Sindicato de Realizadores de Hollywood e “1917” é um dos grandes concorrentes dos Óscares com 10 nomeações, incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador.
“1917” conta a história de dois soldados britânicos, o cabo Blake (Dean-Charles Chapman) e cabo Schofield (George MacKay), encarregados com a missão aparentemente impossível de atravessar território inimigo para transmitir uma mensagem que irá parar a investida de um batalhão de 1600 soldados britânicos, entre os quais se encontra o irmão de Blake, e salvá-los de cair numa armadilha mortífera alemã.
É um enredo convencional: missão suicida e contrarrelógio. Mas o que distingue e eleva “1917” é a mestria técnica alcançada através da direção arrojada de Sam Mendes e da visão de Roger Deakins, considerado um dos melhores diretores de fotografia da atualidade. O filme foi rigorosamente arquitetado de forma a dar a ilusão de ter sido filmado em dois planos-sequência, o único corte no filme acontece quando um dos soldados fica inconsciente, desta forma a audiência acompanha a história em tempo real e tal como os protagonistas não tem tempo para processar e parar devido à natureza da guerra, o que intensifica a ação. Este feito é uma tarefa árdua que requere planeamento, precisão e organização de todas as partes envolvidas durante todo o processo de gravação e montagem.
O triunfo artístico e técnico de “1917” não só é impressionante como é também fundamental para a cimentação do filme como uma experiência imersiva, na qual o espetador é forçado a confrontar a realidade bélica. A audiência acompanha os protagonistas, segue-os no seu encalço e coloca-se nos seus lugares, ao atravessar as trincheiras, frias e inóspitas, lotadas de homens desgastados, feridos e cadáveres; ao vivenciar a horripilante Terra de Ninguém, a quietude e beleza dos campos de França e a destruição de vilas e casas.
“1917” começa e termina com um plano de um campo cheio de flores, uma visão serena que contrasta severamente com a carnificina da guerra. O filme explora de uma forma intimista a jornada física, mental e emocional destes jovens, expondo a desolação sentida, a ânsia por sobreviver, o desespero por suceder, a dor das mortes de companheiros, mas também o confronto encontrado na camaradagem e nas piadas, histórias e canções saudosas sobre casa.
A cinematografia de Deakins captura tanto a beleza campestre como o terror e frenesim da guerra de uma forma assombrosa, recorta silhuetas com paisagens e luz criando imagens inesquecíveis. “1917” é uma proeza visual que é fortificada pela trilha sonora exemplar composta por Thomas Newman, pelo elenco constituído por talentos como Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott e Richard Madden (que têm participações curtas no ecrã, mas marcantes) e pelos dois atores principais, George MacKay e Dean-Charles Chapman, que se destacam com os desempenhos naturais, convincentes e emotivos.
É pela mestria técnica e a audácia artística que “1917” se consagra como um dos grandes épicos de guerra, é uma obra imersiva sobre o inferno travado por entre lama, balas e cadáveres. “1917” reflete sobre a magnitude das perdas e a inutilidade da guerra e recorda os valores, os atos e os homens, porque guerras não são ganhas por massas anónimas, mas sim pelo esforço coletivo e contínuo de homens que carregam muito mais do que as suas mochilas e armas às costas.
“Une femme est une femme” em memória a Anna Karina

A atriz Anna Karina
faleceu a 14 de dezembro de 2019 aos 79
anos. Anna é um ícone do cinema e o seu
falecimento é uma enorme perda para o mundo
da Sétima Arte.
Anna nasceu na
Dinamarca e emigrou para Paris aos 17 anos.
Para além de uma carreira extensa enquanto
atriz foi também modelo, realizadora,
cantora e escritora. Mas é no cinema, e ao
lado do realizador francês Jean-Luc Godard,
que criou o seu maior legado e os filmes
pelos quais mais se destaca. Anna, uma atriz
de talento inegável, é considerada por
muitos a cara que representa a
Nouvelle Vague.
Foi a musa
de Godard e sua esposa entre 1961 e 1967.
Protagonizou vários filmes do cineasta como
“Le Petit Soldat“, “Une femme est une
femme”, “Vivre sa Vie”, “Pierrot le Fou”,
“Alphaville” e “Bande à Part”.
A atriz maravilhou
audiências com o seu charme e beleza
representado várias personagens
inesquecíveis, cada uma com as suas
idiossincrasias, e através das quais brilhou
ao explorar uma amálgama de nuances como
sentimentalidade, timidez, jovialidade,
melancolia, impertinência, um sentido de
humor irresistível, entre tantas outras
mais.
A Anna Karina era
carismática, elétrica e hipnotizante, e
penso que a maioria dos espectadores nunca
se esquece da primeira vez que a vê atuar, o
que foi o meu caso e a razão por querer
refletir sobre “Une femme est une femme”, o
primeiro filme em que a conheci e uma obra
que revisitei muitas vezes.
“Une femme est une
femme” traduzido para português significa
“Uma mulher é uma mulher”. O filme estreou
em 1961 e é a segunda colaboração de Anna
Karina com Godard, sendo, no entanto, a
primeira a estrear devido à censura imposta
em “Le Petit Soldat”. O Festival
Internacional de Cinema de Berlim premiou a
obra com o Prémio Especial do Júri e Anna
Karina com o Prémio de Melhor Atriz por
demonstrar qualidades raras numa atriz que
tinha acabado de iniciar a carreira.
“Une femme est une
femme” é um filme de comédia, drama, romance
e um musical. É uma obra marcante da
Nouvelle
Vague e uma
das grandes obras-primas de Godard. É um
filme inovador e criativo que continua a ser
uma lufada de ar fresco décadas depois,
cimentando-se como único e irreverente.
O enredo do filme é
bastante simples: Angela (Anna Karina), uma
dançarina de cabaret, deseja
desesperadamente ter um filho com o seu
namorado Émile (Jean-Claude Brialy), mas
este é relutante à ideia e para alcançar o
seu sonho seduz o amigo Alfred (Jean-Paul
Belmondo), que está apaixonado por ela,
provocando ciúmes em Émile. O triângulo
amoroso questiona, ao longo da ação, se o
que estão a viver é uma comédia ou uma
tragédia, questionando o amor e a relação
complexa entre homem e mulher.
É um filme vibrante
em forma e conteúdo, que se destaca por ser
o culminar de vários talentos sob a visão
arrojada e visionária de Godard. As trocas
de diálogo são inteligentes, repletas de
humor e atrevidas sendo acompanhadas por uma
banda sonora que exalta o cariz bizarro das
discussões. No entanto, a banda sonora tem
uma particularidade muito singular já que é
marcada pela dissonância: começa e termina
abruptamente, e em momentos que esperamos
ouvir som há apenas o silêncio, como por
exemplo, na atuação da Angela no cabaret que
quando começa a cantar a música desaparece
restando apenas a sua voz. O filme é uma
homenagem aos musicais clássicos e
simultaneamente quebra as regras
convencionais dos mesmos.
Nesta carta de amor
ao cinema, Godard desafia convenção atrás de
convenção criando assim o seu estilo único e
experimental, fazendo meta-referências a
filmes da sua autoria e referências a outras
obras e figuras do cinema; as personagens
estão conscientes da presença do espetador e
quebram constantemente a quarta parede ao
olharem para a câmara, dirigindo-se e
falando diretamente com a audiência. É um
filme deslumbrante com uma mise-en-scène
harmoniosa que nos revela imenso sobre quem
as personagens são e o desempenho do trio de
atores é exemplar e fascinante. A
cinematografia de Raoul Coutard captura toda
a vivacidade das cores ricas que sobressaem
no grande ecrã, das personagens, e da Paris
dos anos 60.
“Une femme est une
femme” mantém-nos agarrados ao ecrã desde da
sequência de introdução até ao fim do filme,
com Angela a dirigir-se à audiência e
piscar-nos o olho uma última vez, depois de
retorquir ao namorado “Je ne suis pas
infâme, je suis une femme” (não sou infame,
sou uma mulher), que para além de ser um
trocadilho inteligente, é também relevante,
já que a grande questão do filme é a mulher
e a beleza, confusão, impertinência e
desejos que a caracterizam.
Anna Karina
desempenha em “Une femme est une femme” uma
das melhores atuações da sua carreira e é um
dos elementos-chave para a excelência e
magia deste filme. Angela é uma personagem
cheia de conflitos internos encarnada com
leveza, ternura e tremenda beleza por Anna.
Os maneirismos, olhares, expressões e
hábitos com que compõe a personagem
permanecem connosco, resultando numa atuação
apaixonante e memorável.
“Eu soube que tu pintavas casas”: O Irlandês

O novo filme de
Martin Scorsese estreou na plataforma
Netflix a 27 de novembro. “O Irlandês” irá
estar no grande ecrã apenas num pequeno
número de cinemas pelo mundo e Portugal não
faz parte dessa seleção.
Scorsese volta à ação
com um filme sobre mafiosos, um género pelo
qual se distinguiu, e com caras que estamos
habituados a ver em filmes da sua autoria:
Robert De Niro e Joe Pesci. A estes grandes
atores junta-se Al Pacino, de igual calibre,
que colabora pela primeira vez com o
realizador.
À semelhança de
“Tudo Bons Rapazes” e “Casino” a nova obra
de Scorsese tem toda a ação, violência e
sangue característicos dos seus filmes sobre
gangsters,
mas há um novo
elemento na sua equação, um componente que
tinge e modifica o sentimento presente ao
longo do filme e que o diferencia: este é um
filme reflexivo, este é um filme que
confronta a fealdade e finalidade da morte.
A obra
cinematográfica inicia-se com Frank Sheeran
(De Niro), velho e débil, encarcerado a uma
cadeira de rodas num lar, onde conta-nos a
sua vida em retrospetiva e como passou de um
simples condutor de camiões a “pintor de
casas”, código para quem assassina a ordens
da máfia. Sheeran, o Irlandês, narra a sua
história a partir da década de 50 quando
conhece o mafioso Russel Bufalino (Joe
Pesci), que o graceja com a sua confiança e
orientação, e que mais tarde, o põe a
trabalhar para o presidente da maior união
sindical dos Estado Unidos, Jimmy Hoffa (Al
Pacino). Estes três homens desenvolvem laços
estreitos de amizade e respeitam-se
mutuamente.
Mas o mundo da máfia
é implacável e toda a ação tem uma reação.
Quando Hoffa se insubordina contra os
desejos da máfia ele tem de ser eliminado e
essa tarefa cabe a Sheeran. Russ e Sheeran
tentam desesperadamente salvar Hoffa,
fazê-lo entender que tem de mudar os seus
comportamentos, mas o velho sindicalista
recusa-se a ouvir e inevitavelmente sofre as
consequências.
Em “O Irlandês” o
glamour e ostentação da máfia não domina o
ecrã, mas sim a melancolia, o peso das
ações. É uma história densamente ligada a
noções de amizade e família, lealdade e
traição que são subjugadas ao mundo do crime
organizado. Hoffa desaparece e é esquecido
pelo mundo, os mafiosos são presos (por
razões nunca ligadas ao desaparecimento de
Hoffa) e morrem na prisão com a exceção de
Sheeran. Ao contrário dos protagonistas em
“Tudo Bons Rapazes” e “Casino”, Frank
Sheeran não tem direito a um recomeço, não
tem um final remotamente positivo. É
castigado pela idade, repudiado pela sua
família, abandonado à solidão e aos seus
pecados, resta-lhe apenas as suas memórias,
o conforto da religião e o caixão verde que
o aguarda.
“O Irlandês” é o
filme mais contemplativo de Scorsese, é o
produto do estilo característico do
realizador conjugado com a reflexão que
advém da velha idade. As sequências
elétricas, os movimentos de câmara
deslizantes, a trilha sonora exemplar e a
cativante narração do protagonista estão
agora embutidas de uma sensação funesta que
paira durante toda a duração do filme e se
intensifica no final. Com uma duração de
3h30mins o filme salta entre linhas
temporais, avança e recua na história, a um
ritmo contido e narrado por um mafioso
vergado pela velhice. Para além da direção
sublime com que Scorsese orquestra o filme
também o desempenho dos atores deve ser
louvado, principalmente o Joe Pesci que
maravilha ao encarnar um mafioso racional e
ponderativo, em oposição aos seus outros
papéis de mafiosos que fervem em pouca água.
A nova entrada para a filmografia de
Scorsese é um grande filme, a única falha
apontável é que apesar do
CGI
conseguir
rejuvenescer as caras do trio principal de
atores as suas capacidades motoras não podem
ser modificadas, e isto é notável quando
Sheeran pontapeia o merceeiro lentamente e
sem força.
“O Irlandês” é dotado de um sensibilismo que deixa o seu
traço em cada momento. É um filme que se
despede com um plano inesquecível que ecoa
dentro do espetador: o corredor escuro e a
porta entreaberta para o quarto de Sheeran
com este sozinho e no silêncio, deixado
apenas com as represálias das suas ações e a
sua consciência, à espera da inevitável
morte e o consequente esquecimento.
Família e Sonhos em “Little Miss Sunshine”

“Little Miss
Sunshine”, cujo título em português é “Uma
Família à Beira de um Ataque de Nervos”, é
um filme de comédia e drama realizado por
Jonathan Dayton e Valerie Faris em 2006. É
sobre uma família disfuncional determinada a
atravessar o país até à Califórnia, numa
velha carrinha Volkswagen, para levar a sua
filha Olive às finais de um concurso de
beleza infantil.
O filme
apresenta-nos assim uma família peculiar e
caótica com membros muito individualistas,
cada um com os seus sonhos, problemas,
temperamentos e filosofias. Olive, a filha
de sete anos, quer participar no concurso
“Little Miss Sunshine”; Dwayne, o filho
adolescente, fez um voto de silêncio para
pilotar na “U.S Air Force”; Richard, o pai,
desesperadamente tenta que o seu negócio
tenha sucesso; Sheryl, a mãe, é
sobrecarregada com stress; Frank, o tio, é
um ex-professor universitário suicida e
Edwin, o avô, é viciado em heroína.
Os pontos fortes
de “Little Miss Sunshine” são o guião (pelo
qual Michael Arndt ganhou o Óscar de Melhor
Argumento) e o elenco composto inteiramente
por atores excecionalmente talentosos (Greg
Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul
Dano, Abigail Breslin e Alan Arkin, tendo os
dois últimos sido nomeados a Óscares que
Arkin venceu) que criaram um retrato
memorável de uma família com laços frágeis à
beira da bancarrota. O enredo desenvolve-se
como uma montanha-russa alternando entre os
altos e os baixos a um ritmo aliciante. O
desenlace da história e as várias dinâmicas
entre os membros da família tanto suscitam
risos com situações descabidamente bizarras
e cómicas, momentos reconfortantes ou
situações excruciantes de tristeza. É um
filme cativante desde o início ao fim, com
uma banda sonora que exalta a miscelânea de
sentimentos eufóricos e disfóricos e uma
cinematografia que captura coloridamente a
excentricidade desta família.
Os desejos que guiam cada indivíduo, para além
da dinâmica da família, são o tema central
de “Little Miss Sunshine”. Existe uma grande
luta dicotómica (Ganhar Vs. Perder) presente
vincadamente no Richard (pai) que defende
que “só existem dois tipos de pessoas neste
mundo, perdedores ou vencedores”, que todos
os que não são vencedores são falhados e
desistiram de si próprios. Richard age, e
citando o próprio Michael Arndt, como o
“antagonista filosófico” do enredo e o filme
desconstrói a filosofia que ele defende, a
vida não é um concurso e não se resume a
perder ou ganhar.
O filme afirma
verdades difíceis de aceitar, apesar de todo
o esforço nem todos os objetivos são
concretizáveis. Todas as personagens são
confrontadas com as suas limitações e com a
dor e frustração de ver os sonhos a
desmoronarem-se, e subsequente, é
desencadeado transformações internas e a
aceitação da realidade. No entanto, o que
realmente importa não é ganhar, mas sim
tentar e continuar em frente, encontrar
felicidade mantendo-nos fiéis a nós próprios
independentemente das expectativas da
sociedade. Estas ideias são expostas no
clímax do filme em que todos os membros da
família apoiam Olive, que está a ser
ridicularizada no concurso por não se
enquadrar no “padrão” e por ser ela própria,
ao juntarem-se todos no palco a dançar
gerando caos no evento. Olive não ganha o
concurso, mas termina a experiência feliz e
com o apoio da sua família.
Esta é uma
história de uma família que fortifica os
seus laços outrora quase quebrados numa
viagem tumultuosa, entendendo-se agora
mutuamente e a si mesmos. A velha carrinha
Volkswagen amarela que tem vários problemas
mecânicos e só pega se for empurrada por
todos os membros é uma analogia para o
funcionamento da família, encontramos
catarse ao vê-los a trabalhar em conjunto e
seguir caminho apesar dos sofrimentos
pessoais.
É um filme
energético, engraçado e melancólico, é uma
amálgama de sentimentos que resulta num dos
filmes de “roadtrips” mais memoráveis de
sempre. “Little Miss Sunshine” é agridoce,
mas reconfortante.
(2019-10-28)
“A vida é curta”: Ikiru (1952)
Daniela Graça

Ikiru
é um filme japonês de 1952 de Akira
Kurosawa - um dos grandes mestres do cinema - e
é uma das suas obras mais aclamadas.
(2019-09-28)
"Variações"
Daniela Graça

“Variações” foi o
filme português mais esperado do ano e
finalmente estreou a 22 de agosto. O filme
biográfico sobre António Variações é
realizado por João Maia e protagonizado por
Sérgio Praia.
O filme segue a
vida do cantor (nascido António Ribeiro)
desde a infância até à sua morte em 1984,
devido a complicações resultantes de SIDA. A
cronologia não é linear e a narrativa não
incide muito sobre os anos de sucesso de
Variações, optando por se focar no caminho
do cantor até ao sucesso e o final da sua
curta carreira.
É um olhar
intimista sobre a vida de António que evoca
com sucesso a paixão que o cantor tinha pela
música e o êxtase, angústia e solidão que
esse sonho lhe trazia. Dá-nos a conhecer as
suas origens, a sua aldeia, como era
apaixonado por música desde criança, a sua
vida em Lisboa e na Holanda, as suas
relações pessoais e as suas inspirações.
Mostra o seu processo criativo e o caminho
penoso, mas necessário, que teve de
percorrer para melhorar a sua arte e
alcançar o sucesso. O filme mostra os vários
obstáculos que o artista teve de superar:
ele tinha a voz e a paixão, mas faltava-lhe
a técnica, as mudanças de bandas e as
diferenças com a editora. O filme transmite
a ânsia e vontade de vingar de Variações que
foi capaz de ultrapassar todas as barreiras
pois a música era a sua vida.
António brilhava
enquanto cantor, barbeiro, pessoa e persona.
Tinha em si uma enorme sensibilidade,
ternura e tristeza que transbordavam nas
músicas que escrevia. O filme demonstra e
explora eficazmente como a sua infância e
aldeia, a sua mãe, e o seu relacionamento
complicado, porém cheio de carinho, com o
seu amante marcaram o cantor.
Sérgio Praia
encarna na perfeição António Variações, a
sua atuação é a jóia deste filme. Conseguiu
dar vida à personalidade tão peculiar,
única, extravagante e intoxicante que foi
Variações e fazer-lhe justiça.
Para além dos
cenários e do guarda-roupa que recriam os
anos 70 e 80, a cinematografia é um dos
melhores aspectos do filme, que captura com
sucesso e vivacidade a vida noturna dos anos
80, a energia dos ensaios, a ânsia e
melancolia de Variações, a calma e beleza
idílicas da terra natal do cantor que ele
tanto amava, e os momentos de ternura entre
Variações e Ataíde, o seu amante.
O filme
destaca-se nos momentos em que António canta
para o público. A qualidade da representação
de Sérgio Praia aliada ao trabalho de câmara
criam momentos de verdadeira emoção que
transborda do ecrã para o público. O filme
cria momentos inesquecíveis em que não só
compreendemos, como também sentimos como a
música pode tocar as pessoas
“Variações” não é
um filme excelente e tem as suas falhas: as
personagens secundárias têm pouca
profundidade, a narrativa tem um ritmo
desequilibrado, não aborda muito a homofobia
existente num país extremamente tradicional.
Não é excelente,
mas é um filme bom, sensível e respeitoso,
que homenageia um dos artistas mais
importantes e irreverentes do nosso país. É
uma homenagem a todos os loucos que ousam
sonhar e que persistem mesmo face à dor que
advém de perseguir esses sonhos, tal como
Variações.
António Variações
é inesquecível e inigualável, e este filme é
imperdível pelo seu valor cultural e
artístico.
(2019-08-28)
O círculo vicioso do ódio em “La Haine”
Daniela Graça

“La Haine” (1995), em português “O Ódio”, é um filme francês do realizador Mathieu Kassovitz. É um filme sobre vingança que é poderoso e reflexivo. É uma crítica social e um triunfo artístico, têm estilo e substância. O enredo passa-se em 24 horas e segue a vida de três jovens nos subúrbios urbanos de Paris: o judeu Vinz, o africano Hubert e o árabe Said.
A discriminação racial e a polícia abusiva governam nos subúrbios e a raiva ferve, e o Vinz é quem melhor "encapsula" esse sentimento. Ele encontrou a arma que um polícia perdeu no confronto do dia anterior, e sedento por retribuição e cego com raiva, jura matar um polícia se o seu amigo Abdel morrer devido aos ferimentos que sofreu ao ser espancado pela polícia.
Vinz ferve em pouca água, odeia a sociedade e principalmente a polícia, ele quer provar que é forte, que é capaz de puxar o gatilho da arma. Quem o contesta e tenta mostrar-lhe a razão é o Hubert, que lhe diz “ódio gera ódio”. O Hubert é pugilista e mais maduro que os outros dois rapazes. O Said é o meio-termo entre o Vinz e o Hubert, sendo por vezes impulsivo como o Vinz ou mais maduro como o Hubert.
“La Haine” é um retrato da juventude imigrante oprimida e rebaixada, de todas as frustrações que rodopiam na selva de cimento que são os subúrbios de Paris, e do caos, violência e falta de rumo que marcam estes jovens. O filme mostra sem rodeios o abuso do poder dos polícias e a falta de confiança que os imigrantes têm nos mesmos, quando um polícia diz a Hubert que “os polícias estavam só a fazer o seu trabalho, a proteger” o jovem responde-lhe com “e quem nos protege de vocês?”.
Tanto em conteúdo como em forma “La Haine” é uma obra de arte. O filme é inteiramente a preto e branco, com uma estrutura cuidadosamente calculada, um argumento cativante que é encarnado por um elenco talentoso, e uma cinematografia harmoniosa e bela, que faz o melhor uso possível da luz e da paisagem citadina de Paris. A câmara move-se com suavidade e precisão elevando a narrativa, o que resulta em cenas formidáveis, como a notável cena em que o Vinz, à frente do espelho, reencena o famoso monólogo do Robert De Niro em “Taxi Driver”(1976), que reflete a personalidade sonhadora e raivosa de Vinz, ou a cena em que sobrevoamos sobre o bairro onde os jovens moram enquanto um DJ toca o seu “set”, cena que caracteriza o movimento artístico de uma geração e demonstra a situação social.
“La Haine” é um espelho da nova França multiétnica. É um filme emotivo e marcante, que evoca reflexão sobre a sociedade e o círculo vicioso do ódio. Haverá maneira de contornar este círculo ou até mesmo quebrá-lo? Ou estaremos condenados a permanecer neste círculo odioso? O final de “La Haine” é inesquecível, as palavras de Vinz ecoam no escuro depois dos tiros: «É uma história sobre uma sociedade que cai, mas que se vai dizendo, para se tranquilizar: “Até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. O importante não é a queda. É como se aterra”». Ódio é um sentimento definidor e destruidor da humanidade.
Passaram 24 anos desde a estreia de “La Haine” e continua a ser uma história relevante na nossa atualidade, é uma história sobre a condição social, a renúncia da autoridade e ódio que se aplica ao passado, ao presente e ao futuro.
(2019-07-29)
“Persépolis” e a importância da essência
Daniela Graça

“Persépolis” é um filme francês de animação de 2007, e é baseado na banda desenhada autobiográfica com o mesmo título da autoria de Marjane Satrapi, que juntamente com Vincent Parannoud realizou o filme.
O filme segue a história da pequena Marjane até se tornar numa adulta. É um filme de pequena duração, com pouco mais de 1 hora e meia, mas que encapsula uma grande história, não só a de Marjane como a da sua família e país. É uma obra cativante pela sua forma e conteúdo, pela sua personagem principal cheia de vivacidade e personagens secundárias caricatas e intrigantes.
“Persépolis” é contado através dos olhos da jovem, como ela perceciona os acontecimentos e as opiniões dos seus familiares, e inicia-se com a Revolução Iraniana de 1979 e com a queda do regime do Xá. Marjane cresce e o mundo muda, um regime opressor e violento instala-se e uma guerra, que irá ceifar milhares e milhares de vidas, desenrola-se. Ela continua a crescer, a questionar-se a si mesma e ao mundo, muda-se para Viena onde se sente isolada no frívolo e frio Ocidente. Volta para casa no Irão onde se sente desconexa.
Crescer é uma tarefa árdua e confusa por si só e Marjane cresceu em circunstâncias assustadoras, perdeu parte da sua família nas mãos de um regime tirânico, experienciou a guerra, foi oprimida e controlada por uma ditadura sexista e religiosa. A jovem passou por momentos em que se perdeu, se isolou e até negou a sua identidade, momentos em que parou de lutar. “Persépolis” é sobre Marjene e as suas convicções, gostos, crises de identidade, falhanços amorosos, depressão, raiva e alienação tanto no estrangeiro como na sua terra natal, e é também sobre o mundo que a rodeia, o país em ruína, guerra, imigrantes, família, raízes e ideais. É um filme provocativo com uma animação que transborda de estilo e criatividade.
A animação é maioritariamente a preto e branco, exceto as poucas cenas passadas no presente que são coloridas. A animação no estilo de banda desenhada demonstra eficazmente tanto o mundo fantasioso de uma criança como a sanguínea realidade da guerra, joga com a luz e escuridão, enquadra e contrasta criativamente, e faz uso de silhuetas, sombras e reflexos, assemelhando-se por vezes a um teatro de sombras. A animação exalta a história convoluta e o diálogo inteligente, tocante e humoroso.
“Persépolis” é tremendamente multifacetado, desenvolve os mais variados assuntos, mensagens e valores. É um filme pessoal e honesto, o que o torna tão marcante e emotivo, e com muito por onde refletir. É uma homenagem sobre a nossa essência, as nossas origens, aquilo em que acreditamos e aqueles que viveram e morreram pelos ideais justos. É um manifesto sobre ter orgulho de quem somos e nunca esquecer de onde viemos, tal como a avó de Marjene lhe disse “permanece sempre digna e integra perante ti mesma”. Nunca devemos perder a essência de quem somos, mesmo nos momentos em que nos falta esperança e força. Devemos seguir em frente, sempre, tal como Marjene.
(2019-06-29)
Como “Os Filhos do Homem” (2006) se distingue no género de ficção-científica
Daniela Graça

“Os Filhos do Homem” (2006) do realizador Alfonso Cuarón é um filme de ficção-científica que engloba drama, suspense, ação, política e guerra.
O enredo do filme é simples: é 2027 e o mundo caiu no caos porque a humanidade é infértil. A Grã-Bretanha tem uma política extrema de anti-refugiados. E Theo, um ex-ativista, concorda em ajudar a jovem imigrante Kee, que milagrosamente está grávida, e levá-la até um santuário fora da Grã-Bretanha onde ela e a criança estarão protegidas.
A premissa simples de “Os Filhos do Homem” é o que o distingue do típico filme de ficção-científica, não existe um mundo fantasioso com uma história e mitologia complexa, criaturas sobrenaturais ou tecnologia avançada. O filme apresenta-nos uma distopia duma realidade familiar à nossa passada no futuro muito próximo. É devido a essa mesma proximidade ao que conhecemos que o filme se torna arrepiante.
A história é elevada através das personagens, todas elas extremamente bem desenvolvidas refletindo a humanidade no seu pior e melhor, e os respetivos atores que as encarnam talentosamente. Tanto os atores principais Clive Owen (Theo) e Clare-Hope Ashitey (Kee), como o elenco secundário Michael Caine (Jasper), Julianne Moore (Julian) e Chiwetel Ejiofor (Luke) têm performances magníficos, demonstrado a intrínseca complexidade da natureza humana face ao desastre e as suas diversas reações.
Cuarón cria um mundo sem futuro e assombrado pelo passado, um mundo com escolas e parques vazios, sem risos de crianças. A humanidade está estagnada, sem esperança e sem rumo. Em Londres vemos pessoas esgotadas, ruas sujas, e bombas explodem. Instalou-se uma severa política que discrimina e persegue refugiados, são criados campos de concentração onde são retidos. As forças militares são violentas e xenófobas. Grupos radicais extremistas surgem para combater a desigualdade com violência. Neste ambiente nocivo o bebé milagre de Kee seria usado como peão político, e como tal, eles têm de escapar da Grã-Bretanha.
O filme alterna fluidamente entre momentos de reflexão, demonstrado o desânimo inerte, e os momentos de fuga e de luta pela vida, em que a camara segue as personagens tremendo e é atingida por sangue, como num documentário de guerra, magnificando o perigo em que se encontram. A cinematografia tem como palete de cores tons frios, sombrios e esbatidos evocando o sentimento de decadência. A trilha sonora exalta o caos, um exemplo marcante foi “In the Court of the Crimson King” de King Crimson, uma canção mística e fúnebre, que ecoa sobre planos da precariedade de Londres, uma cena tão assombrosa que me causou arrepios.
Cuarón demonstra eficazmente em “Os Filhos do Homem” como a humanidade engolida por medo e desespero se prejudica ainda mais, caindo em violência e caos, perseguindo e magoando-se uns aos outros. Mas no meio de toda essa angústia quando a esperança finalmente surge, como um ténue raio de luz, consegue mover o coração humano mesmo nas situações mais adversas.
O filme tem uma grande carga emocional e o espetador fica investido devido às personagens. É ficção-científica, mas os temas são reais e importantes na nossa atualidade, faz nos questionar a situação e a moralidade de políticas de refugiados e guerra, faz nos refletir sobre o Homem e as suas atitudes, sobre o nosso futuro, ou melhor, a falta de existência do mesmo.
“Os Filhos do Homem” é revigorante, é um dos filmes de ficção-científica mais distintos e refletivos do nosso século. É sentimental sem cair em dramas supérfluos, é filosófico sem se tornar elitista ou massacrante. É acima de tudo refletivo, honesto e humano.
(2019-06-08)
O sonho de Wadjda
Daniela Graça

“O sonho de Wadjda” (2012) é um filme
de drama e comédia realizado por Haifaa
Al-Mansour. É a primeira longa-metragem
realizada por uma mulher na Arábia Saudita.
A história segue a vida da jovem rapariga
Wadjda que sonha em comprar uma bicicleta e
andar nela livremente.
No entanto a
Wadjda vive numa sociedade machista e
patriarcal que a restringe em vários
aspectos, sendo um deles, o simples acto de
andar de bicicleta. Este sonho é desaprovado
pelos seus pais, professores e sociedade
porque “não é uma coisa de meninas”. Só o
vizinho e amigo dela, o Abdullah, a apoia. É
uma premissa simples, mas contada com muito
coração.
A Wadjda é um
espírito-livre e não desiste, engendra
vários planos para poupar dinheiro como
vender cassetes, pulseiras e implorar à sua
mãe (o que não resulta). Quando estes falham
ela entra no concurso de leitura do Corão
cujo prémio monetário é o suficiente para
comprar a bicicleta.
Um dos aspectos
que mais gostei foi a direção de fotografia
que proporcionou uma composição de
fotografia harmoniosa, agradável e colorida,
o que reflete imenso a Wadjda e toda a sua
juventude, humor, rebeldia e força de
vontade.
O filme mostra uma realidade que muitas mulheres vivenciam, mostra como se têm de tapar para não serem vistas por homens, como não podem cantar para não serem ouvidas por homens, como não podem conduzir, enfim, como são restringidas em tantas coisas. Mas mostra também a beleza da juventude, das amizades e da relação mãe-filha. E mais importante, mostra como os sonhos, os nossos objetivos e aspirações, são uma parte fundamental de quem somos e que por mais que tudo esteja contra nós, devemos persistir e continuar a lutar.