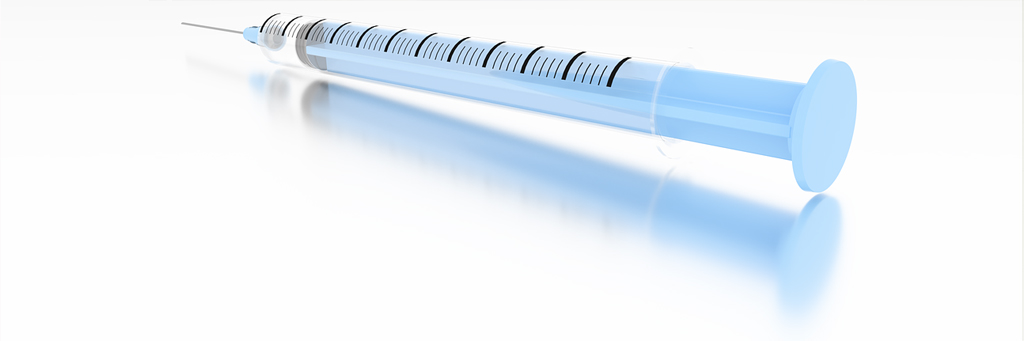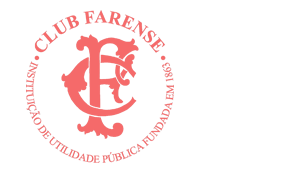sem retorno
Joaquim Coelho
NO 26
- Partilhar 08/05/2022

Há um sol
frívolo que opta por mentir um pouco, dando
sinal de vida por altura em que as portas do
autocarro se abrem finalmente; sem olhar
sequer para os outros passageiros amontoados
na paragem do Hospital Conquest, ele entra.
Demora apenas o tempo de percorrer
meio-autocarro e de se sentar e o sol
desaparece, para já não ser esperado por
ninguém ― ninguém minimamente realista, pelo
menos ―, no decurso dos próximos dias.
Inconscientemente, e ao mesmo tempo que a
temperatura se acinzenta também
consideravelmente dentro do transporte
público, todos os fechos de correr se fecham
mais um pouco; todos os botões desabotoados
se reabotoam. Cruzam-se braços, fecham-se
(melhor) as janelas que parecem
entreabertas, repõe-se a luva que tinha sido
retirada só para manusear o passe
electrónico à entrada.
É verdade
que o ar-condicionado está ligado, mas,
à
excepção do vento, as condições
meteorológicas dentro do bus
não são
assim muito diferentes das da rua.
Às 8 e 25 da manhã, o condutor habitual do autocarro da carreira 26 (ou 26A; é a mesma coisa
[1]) ― um "gémeo-separado-à-nascença" de Armand Assante ― liga o motor. Os fumadores mais resistentes, que tinham permanecido serenamente agarrados ao seu pecado, a apenas alguns passos do autocarro, indiferentes ao Beast From The East [2] que sopra rude de leste, violento e sem obstáculos ao longo da Ridge, agitam-se de súbito e, tal qual um grupo de liceais, apavoradas com a ideia de um flagrante por parte de um contínuo, livram-se prontamente das beatas fumegantes e apressam-se a entrar.Assim que todos entram e se sentam, o veículo arranca suave e ruidosamente; segundos depois, o irmão de Assante acelera ― com um sorriso feliz ― pela rua larga afora.
Lá ao fundo, já depois de uma famosa capela, mesmo ao virar à esquerda, para Harrow Lane, a já atrasada chuva começa, por fim, a fazer-se ouvir, grada, sólida, bruta e obstinada contra o tejadilho do autocarro e abafando, por uns momentos até, o trabalhar barulheiro do motor. Até chegarem lá abaixo, ao entroncamento onde a estrada desagua ― em plena Sedlescomb Road ― rolam numa opacidade parda.
Um puré
de merda gris.
Nada de novo. Avante.
O autocarro vai
pejado de menos-jovens e de velhos. Sentado
num banco mais recuado, os ombros que se
expõem à minha vista são uma amostra de
mercado perfeita sobre caspa e pêlos de cão.
Uma representação fiel da população branca
da velha Brittannnia: desistentes escolares,
quarentões ganzados, tatuados e os
rejeitados mais variados da sociedade; todos
sonolentos, todos acotovelados, todos
desordenadamente espalhados pelos bancos
uniformemente surrados da viatura utilizada
pela Arrow, a companhia de transportes
públicos de Hastebourne. Todos sem nada que
se assemelhe a entusiasmo, preparação... ou
desejo ― não seja por isso ― de mais um dia
a puir os traseiros nas caixas registadoras
ou a raspar os cotovelos das fardas mal
lavadas na reposição de produtos, por entre
os sempre bem iluminados corredores das
instituições comerciais mais brilhantes do
reino de Sua Mui Graciosa Majestade. Aqui
Tesco e Argos... MacDonald's; ali,
Sainsbury's e além, um da Co-op; e lá nas
filas da frente, um casal Marks & Spencer,
ele e Sportsdirect, ela.
É como se
as maiores empresas inglesas de retalho
tivessem ido jantar fora, devorado uma
significativa parte da sociedade britânica à
refeição e vomitado, depois, para dentro
deste autocarro.
Hastings/Faro 2018
[1]
As carreiras 26 e 26A são carreiras
de percursos circulares semelhantes,
mas que variam no sentido em que são
executadas: o 26A "gira" no sentido
dos ponteiros do relógio e o 26,
obviamente, ao contrário do
anterior;
[2]
"Beast From The East" a "Besta Do
Leste" é o nome dado a um vento
muito frio, originário da Sibéria,
que sopra regularmente no Sussex
durante os meses de Inverno;
OLHOS CASTANHOS SÃO OLHOS NEGROS
ou
Uma Fábula Cautelar de Fricção Científica
- Partilhar 12/02/2042
Querido
leitor:
Apesar de viver no mesmo planeta
que tu, por vezes tenho a sensação que vivo
num universo paralelo. Moro num pequeno
país, mas o que te vou contar poderia
passar-se em qualquer outro — grande ou
pequeno — visto que o mal de que te vou
falar parece estar a alastrar a todos os
países do mundo.
Se te conto apenas como
cá tudo se passou é porque me parece que o
caso do meu país é uma história cautelar
exemplar, embora possua contornos tão
irrealistas que até parece impossível que
algo semelhante possa alguma vez ter
acontecido.
Moro numa nação onde
aproximadamente metade da população tem
olhos castanhos e a outra metade olhos
negros. Eu, por exemplo, tenho olhos
negros.
Mas não é essa a única
diferença, claro. Há imensas desigualdades
sociais reais entre os cidadãos da minha
pátria: económicas, culturais, educacionais,
financeiras... enfim, uma verdadeira nação
capitalista do século XXI.
No
entanto, leitor, e não sei exactamente
quando tudo começou, aconteceu-me um dia, há
uns bons anos atrás, reparar que alguns
meios de comunicação, empurrados pelas redes
sociais da época e pela ambição de certas
agendas políticas, começaram a demonstrar um
interesse especial pela cor dos olhos dos
cidadãos. Um grupo, em especial,
destacava-se pelo seu activismo mais...
sonoro, vamos chamar-lhe assim.
A
sua causa? O apoio incondicional a (uma
pequena minoria de) pessoas de olhos
castanhos que, nunca percebi bem porquê, se
"auto-intitulam", se "sentem", enfim, como
pessoas de olhos negros. São os chamados "Transcromáticos
Oculares Negros" e a quem, daqui em
diante, me referirei como
"trans-oculares-negros" ou apenas
"trans-oculares".
Olhos castanhos são olhos negros.
Parece
estranho, eu sei. Começa com o facto que os
"sentimentos" de cada um não são exactamente
factos científicos e segue que a ciência há
muito que possui todas as explicações
necessárias para justificar as diferentes
colorações dos globos oculares dos humanos.
Mas tudo bem, tudo bem...
A princípio
(creio que será apenas justo confessá-lo),
até eu lhes dei a minha simpatia. E porque
não daria? Um grupo de pessoas claramente
vulneráveis que sofre de um evidente
problema de saúde mental (até agora)
praticamente desconhecido do grande público,
não há como lhes recusar compaixão... ok, no
mínimo, alguma solidariedade.
E foi precisamente a minha
solidariedade que me valeu a primeira
"reprimenda social"; corrigiram-me,
fazendo-me notar que a DTO ou "Disforia
Transcromática Ocular", apesar de figurar há
nove décadas na lista de perturbações
mentais, não é uma doença mental. Como
resultado prático, eu — uma pessoa de olhos
negros — sim, eu, fui apelidado de
Trans-Nigrofóbico(1) e,
durante um par de semanas ou coisa que o
valha, fui enxovalhado em todas as redes
sociais em que estou presente e, segundo
alguns amigos, até noutras em que não
estou.
Ainda assim, tive sorte. Nessa
altura — no princípio — os blasfemos que se
atreviam, mesmo que involuntariamente (como
eu), a contrariar o novo evangelho
trans-ocular ainda não eram imediatamente
banidos ou cancelados profissionalmente.
Dirás tu, talvez, caro leitor:
"Caro
cronista, que diabo, a sociedade
contemporânea está cheia de grupos sociais
que vivem as suas fantasias pelas suas
próprias regras... por exemplo, as
religiões. Uma religião não é mais do isso
mesmo: uma fantasia organizada. E todos nós,
diariamente, navegamos e levamos uma vida
normal na sua vizinhança... não?"
Pois raciocinas muito bem... Mas a
resposta à tua pergunta é "não". Este não é
um grupo social qualquer. Num mundo em que
toda a gente é constantemente acusada de
algum tipo de preconceito — racial, social,
etc — os incansáveis e estrepitosos ATRACOS
(activistas trans-oculares) souberam, melhor
do que ninguém antes deles, activar a
vergonha (e a culpa associada) de uma larga
faixa da população, de modo a fazer aliados
de todos à sua volta.
E
o que é necessário fazer para se ser
considerado um "aliado trans-ocular"? É
fácil, trata-se apenas de, passe a piadola
fácil, olhar o mundo com outros olhos.
Ajudar todos aqueles que, apesar de terem
olhos castanhos biológicos, "se sentem de
olhos negros". Reconhecer que, na verdade,
se alguém de olhos castanhos se identifica
com olhos negros é porque esse alguém já é
de olhos negros. Na verdade, nunca foi de
olhos castanhos.
As cores dos olhos são uma construção social.
Pensa só:
queres tu ser, meu caro leitor, o insensível
responsável, pelos milhares de suicídios
diários de indivíduos trans-oculares? Claro
que não.
A escolha é simples: ou estás
do lado das vítimas — dos oprimidos que têm
olhos negros apesar de serem castanhos —, ou
estás do lado dos opressores que têm olhos
negros desde sempre? E tu não queres ser um
desses canalhas que nega aos seus
semelhantes o "Direito
Humano De Auto-Decidir A Cor Dos Seus
Próprios Olhos". Por isso, mesmo que
tenhas olhos negros e aches que olhos
castanhos não são olhos negros, simplesmente
olhas para o lado e simpatizas, apoias,
exultas e combates pela causa.
E,
quanto mais lutas, mais sentes que, de
facto, estás num patamar social superior.
Tão mais alto que em breve — tal como outros
antes de ti o sentiram em relação a coisas
tão dispares como o paraíso celestial
cristão ou a ditadura do proletariado
comunista —, também tu já divisas, lá ao
longe, o bem ulterior, o bem superior.
Neste caso particular, um mundo só de olhos
negros... Um mundo em que mesmo os olhos
castanh... melhor, todos os olhos castanhos
— e os azuis... e os verdes, também — são,
sempre que assim tal desejem, olhos negros.
– // –
Mas não tem de
ser assim. É importante que saibas que podes
pensar de maneira diferente e que isso não
vai fazer de ti uma pessoa má. Na verdade,
há muitos mais que se negam a reconhecer que
a realidade individual não tem —
obrigatoriamente — de se vergar face à
alucinação colectiva. A resistência é real e
eu, eu tenho um sonho:
Luto todos os dias para que os olhos negros
dos meus filhos um dia possam sair à rua a
descoberto, sem as lentes de contacto
castanhas que todos os nascidos com olhos
negros devem usar para se aperceberem da
discriminação que os trans-oculares-negros,
supostamente, passam todos os dias. Que não
necessitarão de frequentar as aulas de
reeducação trans-ocular nem as sessões de
auto-recriminação ocular biológica... E que,
eventualmente, os seus filhos poderão viver
numa sociedade sem olhos trans-neg
...................... negam a ciên
............................ stanhos não são
…........
….................................................................................................
Esta
mensagem, ilegal à luz da Lei de Igualdade
Trans-Ocular de Abril de 2040, foi
interceptada pelo Departamento de
Consciencialização e Correção Linguística e
Social (DECOCOLISO).
A sua divulgacão
constitui uma infração e todos os que a
leram devem apresentar-se voluntariamente,
até ao fim do dia, no centro de reeducação
trans-ocular da sua área da residência.
Olhos trans-negros são olhos negros.
(1) - Nigrofóbico: do latim nigrum, negro + do grego fóbos, medo);

CASA VELHA, CASA NOVA
- Partilhar 21/11/2021
A Casa Nova
queixou-se de novo.
Era tudo o que podia
fazer. Murmurar a sua dor. A Casa Velha,
mesmo ao lado, obviamente sentia o rumor das
paredes novas encostadas às suas. A queixa
era, frequentemente, a mesma: algures na sua
parede de leste havia uma dor profunda que a
incomodava, lá quase um metro abaixo, em
plenas estruturas.
A Casa Nova, apesar
de ter sido erigida havia apenas umas
décadas, queixava-se frequentemente deste
problema à Casa Velha que mais não podia
fazer do que ouvi-la... Ou não seja uma
verdade universal que as paredes têm
ouvidos.
Agora, quando me perguntam
porque motivo a Casa Velha ainda dava
atenção à sua congénere mais nova,
respondo-lhes sempre que a Casa Velha —
claramente — encarava a Casa Nova como uma
irmã-gémea, só que muito mais nova.
Eu
explico: a Casa Velha de que vos falo fica
situada na cidade imaginária de Hastebourne,
no Sussex. Na época em que foi erigida, nos
fins do século XIX, a Casa Velha foi
construída, como milhões de outras, geminada
com uma outra casa — neste caso específico —
à sua direita. Duas casas iguais, gémeas,
mas simétricas; opostas como numa imagem
espelhada, reflectindo-se fielmente uma à
outra.
Durante a segunda guerra
mundial, porém, a gémea da Casa Velha foi
uma das primeiras do Reino Unido a ser
destruída (logo durante a primeira semana de
Setembro de 1940) durante um bombardeamento
da Luftwaffe.

A Casa Velha
chorou a perda da sua gémea em silêncio, que
é como as casas choram. Durante mais de
meia-década, até que a reconstrução nacional
teve lugar, a Casa Velha tornou-se motivo de
conversação na vizinhança.
Não
raramente, quando se falava dos tempos
difíceis do conflito, a postura inabalada da
Casa Velha era enaltecida por todos.
Foi
já na década de 1950 que, por fim, a Casa
Nova foi construída. Uma noite, quando as
luzes da sala-de-estar foram acesas pela
primeira vez, a Casa Nova, finalmente,
ganhou vida.
Surpreendida, a Casa Velha
olhou pela primeira vez em muitos anos para
o lugar onde um dia existira a sua irmã e
descobriu que já não estava mais sozinha.
Uma nova irmã-gémea tinha sido construída: a
Casa Nova. A fraternidade, no entanto, já
não era tão evidente. As janelas já não eram
perfeitamente quadradas como as da Casa
Velha, a porta tinha uma ombreira
diferente... Enfim, a Casa Nova, para além
da intenção... Já pouco reflectia
a irmã mais velha.
Uma
pequena nota para lembrar que as casas,
normalmente, apenas
ganham verdadeira
vida à noite, quando se lhes iluminam os
interiores.
Mas a Casa
Velha ganhou afeição à Nova e, aos poucos,
foi-lhe passando os ensinamentos que ganhara
através dos tempos. Como, no princípio, nem
electricidade ela tinha quando fora
construída ou como lhe custava, no fim de
cada inverno, sentir os seus interiores,
encardidos pelo fumo constante das suas
várias lareiras, a serem raspados pelos
limpa-chaminés. Das coisas que mais a
aborreciam na actualidade, a Casa Velha
destacava as ilusões semi-esotéricas de
alguns inquilinos recentes, adeptos do
Feng-Shui, que insistiam em colocar espelhos
ao fundo dos corredores para "aumentar a
dimensão psicológica" da casa ou virar os
pés das camas para Sul, como se cada uma
delas fosse o trono do Império do Meio... A
grande "Tolice Chinesa", como lhe chamava.
Quando o tema da conversa eram as dores
da Casa Nova, a velha lembrava-lhe que muito
possivelmente seria algum espigão de ferro
que permanecera da estrutura da Casa Irmã
Original destruída e que nenhum ser humano
iria alguma vez perceber a sua dor e fazer
algo acerca disso. Dizia-lhe que eram muito
raros, hoje em dia, os pedreiros — livres,
subjugados ou contratados — que sabiam ler
as casas olhando apenas para elas e
descobrir assim a pua, o espinho que a
magoava.
A Casa Nova ouvia tudo com
muita atenção e sentia, por seu lado, um
grande orgulho quando percebia que a Casa
Velha se amparava — cada vez mais — às suas
paredes novas.
Esta história só não
tem fim porque ambas as casas — a Velha e a
Nova — ainda continuam em pé em Carisbrooke
Road, na cidade imaginária de Hastebourne,
no Sussex, apoiando-se física e
psicologicamente uma à outra.
Como duas
irmãs, gémeas, não-idênticas.
NA COMUNIDADE
- Partilhar 06/11/2021
Numa dada altura, na terceira parte da saga da família Corleone, referindo-se ao seu desejo de tornar legais todos os negócios da família, Michael Corleone queixa-se:
"Just
When I Thought I Was Out, They Pull Me Back
In!"
(Logo quando eu pensava que estava
fora, eles puxam-me para dentro de novo")
A minha
história laboral no Reino Unido poderia —
anedoticamente, claro — ser definida também
nesses termos. Eu explico: não é que os
imigrantes em terras de sua majestade sejam
desprezados e, pura e simplesmente, tratados
como cidadãos de segunda. Não. Não me parece
que isso seja verdade. Ou seja, não é tanto
aquilo que ao imigrante é vedado, em termos
de oportunidades, mas é mais o que é
esperado que ele faça.
Por outras
palavras, ninguém me proíbe de me
candidatar a um trabalho, imaginemos, numa
agência de publicidade. Mas não é
esperado que eu o faça. Mesmo que eu
apresente no meu C.V. mais de duas décadas a
trabalhar em publicidade, é esperado que eu
retome a actividade que primeiro tive quanto
arribei à Britannia. Isto, mesmo que eu
tenha tido apenas quatro ou cinco anos de
experiência como "carer" ou "support
worker", parece que é esperado que eu
— estrangeiro — deva "naturalmente" aceitar
e cumprir esse meu destino e trabalhar nessa
actividade.
E a verdade que eu vivi
ao longo destes anos como profissional de
saúde mental, é que a percentagem de
estrangeiros com quem trabalhei foi sempre,
de longe — de muito longe —, superior à de
nacionais britânicos. No sector privado,
então, trabalhei em lugares — como o
hospital Priory de Ticehurst, por exemplo —
onde o ratio de trabalhadores romenos
nas enfermarias, em relação a trabalhadores
de outras nacionalidades seria de uns nove
para um.
Já nos escritórios dessa mesma
instituição, curiosamente ou talvez não, não
trabalhava um único estrangeiro. Nem como
amostra das famosas diversidade, inclusão e
equidade.
Talvez seja por isso que quase
todos os "job-coaches" que aqui tive no
serviço de desemprego durante este ano,
quase todos fizeram tábua rasa, não só
da minha formação escolar e experiência
profissional em publicidade, como até das
minhas mais recentes experiências como
recrutador e como coordenador de recursos
humanos... talvez seja por isso — dizia eu —
que me empurraram sempre (delicadamente)
para o "trabalho do costume".
Quando o
estrangeiro cai do cavalo
… já não há
cavalo.
Se algum dia eu
escrever as minhas "Memórias De Um
Auxiliar De Acção Médica De Saúde Mental",
muito provavelmente, as mesmas deverão estar
divididas em três grandes fatias: quando
trabalhei no sector público, no NHS;
no sector privado, em agências
(NursePlus e Carestaff Bureau) e na
comunidade. Sim, que esse é o novo
capítulo da minha vida como "cuidador".
Depois de mais de um ano a candidatar-me
para tudo o que era (ou se parecia com)
trabalho de escritório, estou, desde fins de
Setembro, a trabalhar novamente em saúde
mental. Desta vez, na comunidade, em
Brighton, ajudando na recuperação e
reintegração social de doentes, na sua
grande maioria, com diagnósticos de EUPD
(1).
É um bom trabalho.
"Just When I Thought I Was Out..." .
(1) Emotionally Unstable Personality Disorder (EUPD) - Perturbação Borderline da Personalidade (PBP)

NOS BRASIS
- Partilhar 14/08/2021
O homem apoiou o antebraço esquerdo sobre o tejadilho do carro; a mão direita — essa — abraçava a coronha do "três oitão" enfiado no cinto, mesmo abaixo do umbigo, com o cano perigosamente apontado para as suas partes baixas. Inclinando-se um pouco para melhor direccionar a voz para a janela aberta e, enquanto gotas de suor lhe corriam — abundantes — pelo queixo abaixo, disse-me:
— Buah tardji. Vâmo précisá dji révisstá o sêu viículo em bussca dji drogách e dji arrma.
Numa dada altura da minha vida, por motivos que não são para aqui chamados, viajei frequentemente para o Brasil... ou deveria dizer para "os Brasis"?.
O seu hálito exalava um odor estranho: um perfume a cachaça misturada com uma olência mais adocicada de maconha.
Confesso que, apesar de não termos connosco nem "drogách" nem "arrma", fiquei um bocadinho apreensivo. Afinal, era o meu primeiro encontro, face-a-face, com agentes policiais brasileiros, neste caso, polícias fronteiriços na divisa entre os estados de S. Paulo e Rio de Janeiro. Para adicionar um bocadinho extra de frisson à situação, o colega do meu interlocutor escolheu posicionar-se apenas a uns metros do carro, também com a mão direita agarrada à coronha da sua pistola, mas essa — segundo os regulamentos (?) — devidamente enfiada no coldre de cabedal castanho-escuro.
Cada vez que relembro esses momentos, a sensação que me domina sempre é que não há um só Brasil.
A vida numa metrópole como S. Paulo pouco ou nada... huum, nada... nada tem a ver com a vida em Varginha. Apesar de estar no centro de uma conspiração com extra-terrestres que fazem da cidade de Minas Gerais uma espécie de "Roswell tropical", as exigências sociais em Varginha em nada se poderão comparar com as das grandes cidades. E esses são logo dois Brasis completamente diferentes. Igualmente não será de esperar encontrar grandes semelhanças entre a vida no último porto-seco do café de Minas e, digamos, na Meca de surfistas, em Ubatuba, no litoral paulista... ou entre essa e Paraty, a uns meros 75 quilómetros mais para Este. Podia estar aqui a comparar situações até amanhã, mas, para terminar, dir-vos-ei que basta ter comido pão-de-queijo em S. Paulo e em Minas para confirmar cientificamente o que aqui afirmo.
O guarda-costas de aspecto assustador da dondoca dos Jardins Europa, em S. Paulo, já pouco tem em comum com o seu primo que ficou para trás a tratar na padaria da família em Pindamonhagaba.
Na Rodovia Rio/Santos, na zona de pesagens de Santa Catarina, a tensão parecia estar para durar: sempre com um ar bastante ameaçador, o homem ordenou-nos que saíssemos do carro e lhe apresentássemos os nossos documentos. Nem a aparição (surrealista) de um tipo, completamente nu (à excepção de umas havaianas de padrão camuflado), todo nu, dizia eu, surgido do meio da mata com uns 20 e tal quilos de proibidíssimo palmito às costas, nem isso provocou qualquer alteração na situação.
Foi preciso o gordo bêbedo e ganzado olhar para o meu passaporte para gritar na direcção do colega:
— Oh, Valdemar, oh... é um pátrício mêu. — e, na minha direcção, tentando imitar a pronúncia portuguesa — ora póis, que surprêza, ora êsta... ó pá.
O bisavô dele era de Pontchi dji Leima e, por isso, só nos gamou alguns maços de tabaco.

MARIA DAS DORES
- Partilhar 7/06/2021
Negra, longilínea e portadora de uma reputação de violência reconhecida por todos, Maria das Dores actualizava diariamente o seu cadastro de agressões na escola primária que frequentei. Durante os quatro anos que fomos obrigados a frequentar o mesmo espaço que semelhante entidade, todos os miúdos instintivamente sabíamos que, nem em casa, deveríamos mencionar o seu nome, não fosse tal invocação — por magia ou agoiro — iniciar alguma reacção em cadeia que terminaria numa série de eventos menos felizes no dia seguinte.
Tudo o que podíamos fazer era considerar-mo-nos muito afortunados por ela apenas assombrar a nossa existência durante as manhãs de segunda a sábado, que é como quem diz, no tempo que passávamos na Escola Primária da Sé, à Rua Rasquinho, na cidade velha.
Acho sempre imensa piada quando oiço gente a elogiar como "antigamente é que era bom".
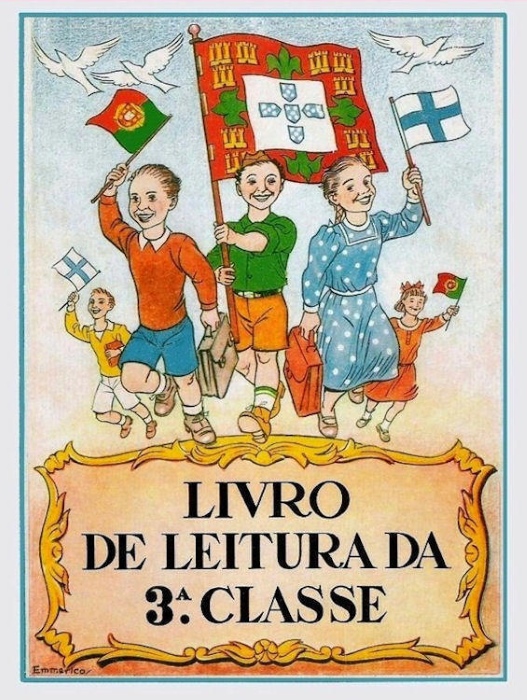
Um dos temas mais
utilizados para explicar precisamente isso,
para explicar como "antigamente é que era
bom", é o estado da educação no nosso país:
— Os miúdos hoje em dia já não aprendem nada. Já eu, no meu tempo... — e segue-se uma descrição exaustiva dos factos e curiosidades mais absurdas que o orador teve de aprender, lista que frequentemente inclui inutilidades como os principais rios de Angola e Moçambique (e seus afluentes), as capitais de todas as regiões administrativas das ex-colónias ultramarinas, as principais estações da linha de comboio Lisboa-Évora (incluindo o já extinto ramal de Casa Branca, claro) e outras pérolas demonstrativas da capacidade de memorização de fait-divers supostamente indispensáveis.
Ora, no meu caso particular, a interiorização da sabedoria escolar era-me inculcada, na melhor das hipóteses, pela sempre presente ameaça de violência física e, na pior, pelo sofrimento e pela dor causados, lá está, por Maria das Dores. Assim baptizada pela sua dona e com uns cinquenta centímetros de comprimento, dois dedos de largura e, talvez, um de grossura, Maria das Dores era uma régua de pinho negro que a nossa mui respeitada professora — a Dona A. — usava para impor a ordem e, mais que tudo, para sovar diariamente um grupo de miúdos, pobres e desprotegidos, com idades compreendidas entre os seis e os dez anos.
As justificações que originavam os castigos eram imensas e muito criativas, há que confessá-lo. Por vezes, porque (segundo ela) todos sem excepção se tinham portado mal, recorria a uma técnica que denominava "de uma ponta à outra". Como o nome indica, a senhora professora começava na carteira na ponta diagonal mais distante da porta e punia todos os alunos com uma série de — cinco ou seis, às vezes mais — violentas reguadas. Outras vezes, porém, bastava que um de nós se tivesse portado mal. Outras ainda, nas suas pausas para tabaco, entregava a um dos alunos o papel de bufo: assim, o eleito escreveria no quadro negro os nomes dos que se portavam mal na sua ausência e que seriam depois convocados à presença de Maria das Dores.
Lembro-me tão bem do dia em que a vi atar um aluno à sua carteira com uma linha de costura...
… e de a ouvir prometer que, se ele a partisse, todos seríamos castigados. É claro que o dito assim fez, o que originou mais uma sessão "de uma ponta à outra". O aluno na origem da punição, esse — que, hoje em dia, seria muito provavelmente reconhecido como uma criança com notórios problemas de aprendizagem — teve direito a um tratamento especial: à frente de todos nós, a senhora professora baixou-lhe as calças e, sem qualquer pudor ou remorso, açoitou-lhe o traseiro exposto. Assim, espancado e humilhado à frente de todos os colegas; bem-vindo a mais um dia normal na Escola Primária da Sé protagonizado, como sempre, pela inesquecível Maria das Dores.
Ali mesmo, paredes-meias com o edifício que, nessa época, albergava a Escola do Magistério Primário, onde eram formados os novos professores primários do concelho de Faro, Maria das Dores era um objecto perfeitamente aceitável e justificado no ensino primário português no fim da década de 60. Mas não era, claro está, a única. Não. As outras duas professoras que leccionavam na Escola Primária da Sé — incluindo a directora da escola — também tinham as suas "Marias das Dores" que não tinham qualquer problema de qualquer espécie em utilizar nos outros miúdos pelos quais eram, ou deveriam ser, responsáveis.
NOTA FINAL: Lembro-me muito bem da primeira vez que Maria das Dores me queimou as palmas das mãos. E lembro-me que só não chorei porque uma sensação que eu desconhecia até aí se apoderou de mim, superiorizando-se à dor.
Aos seis anos de idade, sem o saber, eu tinha tido o meu primeiro contacto com a indignação.
UMA PROPOSTA MODESTA
- 1/04/2021
Para prevenir que as desigualdades se agravem ainda mais em Portugal e assegurar que os políticos nunca mais sejam um fardo para o país, tornando-os até benéficos para a população nacional.
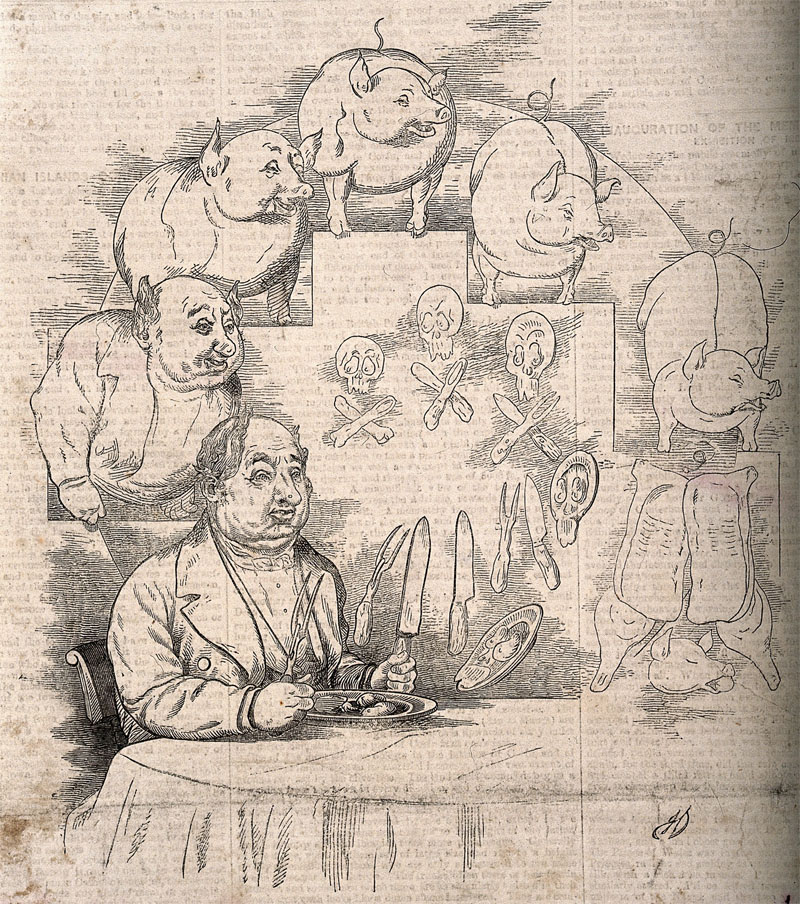
Vou agora, portanto,
humildemente propor as minhas próprias
ideias, que espero não sejam passíveis da
menor objecção:
Foi-me assegurado por
um cozinheiro muito conceituado que conheço
em Londres, que: "um político minimamente
saudável e com uma qualidade de vida acima
da média é, depois de devidamente desossado,
desinfectado e fervido, um alimento
nutritivo e saudável dos mais deliciosos,
seja cozido ou assado, não restando dúvidas
de que servirá igualmente para confeccionar
um excelente fricassé ou um grelhado." (fim
de citação)
Portanto, modestamente
ofereço à consideração pública que, dos
milhares de oportunistas e arrivistas
políticos já devidamente computados, todos
os de idade inferior a cinquenta anos devam
ser mantidos nos seus cargos (para engorda e
abate públicos), mas só depois de
correctamente capados (no caso das fémeas,
esterilizadas, claro), de modo a evitar
qualquer tipo de reprodução no futuro.
Proponho também que todos os restantes,
com cinquenta e um anos de idade ou mais,
sejam obrigatoriamente vendidos (para
engorda e abate privados) àqueles que sempre
usufruíram dos seus favores e pareceres, a
saber: empresas de construção civil,
bancos e pessoas de qualidade e fortuna de
todo o país; sempre aconselhando os futuros
gestores a deixá-los mamar abundantemente no
último mês antes da matança, de modo a
torná-los gordos, pois — à semelhança do
porco preto —, o político português, em
regra, quanto mais gordura apresenta, mais
seguramente tenra é a sua carne.
Calculei que o deputado mediano, quando recém-empossado, pesará entre 75 e 80 quilos e que, no espaço de uma legislatura, se devidamente amamentado — numa dieta rica em almoços grátis, já se vê — aumentará facilmente para a faixa dos 100 quilos de peso corporal.
Assim, um político em
meio da legislatura fará com facilidade as
vezes de um borrego numa festa de casamento
para, digamos, 50 convidados e ainda deverá
sobrar — à vontade — um quarto traseiro para
o almoço das famílias dos noivos no dia
seguinte ao da boda. Afinal de contas,
tirando os frequentes maus-fígados, o
desperdício é quase inexistente, pois bem
sabemos que no caso dos machos, por exemplo,
quanto mais avançada é a carreira no serviço
público, menor é o tamanho dos túbaros,
sendo que, na maioria das vezes, está até
cientificamente provada a sua desaparição
completa, bem como a da espinha dorsal,
aliás.
Propriamente
administrado, o que não custa crer que será
o caso (visto que a gestão NÃO SERÁ FEITA
por políticos), o mercado da carne de
político terá a sua estação ao longo de todo
o ano, mas será mais abundante de quatro em
quatro anos. Nessas épocas específicas,
sobretudo em ano de eleições presidenciais e
autárquicas, poderá suceder que os mercados
se encontrem um pouco mais saturados do que
o normal, visto que o surgimento de novos
políticos é, obviamente, muito superior à
média.
Nesses períodos, para
evitar eventuais desvalorizações no mercado
interno por excesso da oferta, proponho uma
maior diversificação da oferta através da
criação de sub-géneros (kosher e halal) e o
aumento da exportação para mercados
alternativos como Israel e Emiratos Árabes.
Para terminar,
gostaria de confessar que nada me move nesta
proposta, mais do que a firme vontade de
servir ao meu país uma solução, que espero e
desejo definitiva, para o populismo fácil e
também fornecer uma fonte estável de
rendimentos que permita, a breve prazo, a
construção do trecho de TGV Louriçal do
Campo/Oleiros e de um novo aeroporto para
Lisboa, no Bairro Alto.
Absit
Invidia
Joaquim Coelho
BOI DE
PIRANHA
- 7/03/2021
Quando os vaqueiros do Brasil tinham de conduzir as manadas de gado por rios onde sabiam que existiam piranhas, escolhiam um boi mais velho ou doente — o boi de piranha — e usavam-no como isco para as piranhas que, obviamente, o devoravam, ao mesmo tempo que o resto dos bovinos atravessava o curso de água, um pouco mais longe, em segurança.
O estudo de mercado
do cliente era bastante claro:
50 e tal
porcento dos portugueses inquiridos não
separavam as embalagens usadas em casa —
papel, plásticos e latas, e vidro — porque,
diziam, tal procedimento era "muito
complicado".
Já estávamos no ano
de 2000 e, a mim, custava-me imenso a
acreditar que a grande maioria dos meus
compatriotas fossem um bando de incapazes.
Assim, decidi acreditar que semelhante
argumento era uma grandessíssima tanga,
resultado mais da preguiça do que de
efectiva falta de capacidade de coordenação
mental e motora. E tanto acreditei que
acabei vendendo ao cliente uma campanha
publicitária mais... huum... enérgica;
enfim, uma campanha que desafiava o
preconceito.
A ideia que me queimava os
neurónios pode ser resumida assim: separar
as embalagens usadas é muito complicado?
Que diabo, até um macaco é capaz de
o fazer!
E assim
"nasceu" o Gervásio, o chimpanzé do
anúncio da Sociedade Ponto Verde.
Mas, se por um lado,
o cliente adorou desde o primeiro instante,
a ideia ousada de usar um símio como
provocação para os seus concidadãos, por
outro, a sua insegurança em relação ao texto
do dito anúncio revelou-se evidente até ao
momento da gravação final da locução.
Mas não só, cada reunião de apresentação
(hipoteticamente) final do story-board do
anúncio de TV tornou-se num exercício de
paciência, ao fim do qual era sempre
necessário redesenhar, acrescentar ou
modificar planos e refazer textos.
Quando
(mais) uma reunião de apresentação final foi
marcada para o dia anterior ao do começo da
produção, confesso que comecei a ficar
deveras preocupado com o futuro do Gervásio.
Nesse dia, falei com o Paal (o meu director
de arte) e decidimos, desta vez, que iamos
ser mais pró-activos.
Por outras
palavras, decidimo-nos a criar um
boi de piranha.
Num dos planos do story-board, acrescentámos — no laboratório onde a acção decorre — um número dois, bem visível, pintado numa das paredes. Seria, esse o nosso boi de piranha.
Resultou? Vejam o spot e digam-me vocês:
153
(baseado em acontecimentos verídicos)
- 22/01/2021

— Ó 153, você devia
ter-lhe dado um tiro.
E o 153, forte mas
tímido, na sua voz serena e desalentada lá
repetia pela milésima vez desde essa
madrugada:
— Ó 153, correcto?
Mas você é um cobarde ou um traidor?
— O Sr. Comissário
desculpe, cobarde, eu? Cobarde é um
indivíduo que dá um tiro nas costas de
alguém... assim sim, à traição.
Mas o comissário não
estava nada contente:
— Ó Sr. Comissário...
— Homem, como é que
eu lhes vou explicar que o meu melhor
atirador estava de serviço à porta da
esquadra e não deu um tiro num prisioneiro
que se escapou pela porta principal? E que
prisioneiro? Pois logo um subversivo, se
calhar, trotskista... ou um comunista, que
ainda é pior.
E o 153 lá voltava a
moer as palavras — de olhos baixos e mãos
grossas rodando nervosamente o boné surrado
— a garganta entupida pela correcção que lhe
desimpedia a visão desde miúdo, mas que, ao
mesmo tempo, não parava de, constantemente,
lhe atrapalhar a vida: mas, que diabo, não
se dá assim tiros nas pessoas. O dito
subversivo, se calhar, até podia não ser
inocente, mas era uma pessoa. Não é
correcto.
E claro que não era
cobarde, que diabo de conversa mais parva.
É claro que abriu-lhe
logo ali a cabeça. Espirrou sangue por todo
o lado. O 153 — nessa altura, o 1328 — não
foi de modas. Tirou o cassetete e começou a
arriar pra esquerda e pra direita... pra
quem estivesse ao alcance. O primeiro a
levar foi o do cinto. Uma paulada de leste
pra oeste, bem no meio dos queixos, deitou-o
logo ao chão, agarrado à cara, a chorar.
Quem lhe manda atacar assim pelas costas, à
traição?
E o que é que os
bufos da P.I.D.E. percebiam de correcto e
incorrecto?
Esse sim, é que era
um cobarde. Entretanto, enquanto tenta
ajudar o 1500 a levantar-se, há um outro
américa que se abeira dele pela esquerda,
com intenções agressivas. O 1328 roda o
corpo e, sem pensar, dá-lhe uma cotovelada
na cara e ouve-se um estoiro enorme;
resultado: partiu-lhe a cana do nariz.
O silêncio, mais
pesado do que o desalento geral e embalando
as suas recordações de Lisboa, arrastou-se
por algum tempo na "Sala Grande" do primeiro
andar da esquadra da Alameda, em Faro. Por
fim, o Sub-Chefe Bacalhau retomou:
— Ó meu Sub-Chefe,
pois o que...
— Ainda para mais, você recusou o convite para ir trabalhar para eles. Vamos mesmo ter de lhe dar um castigo qualquer. Mas, deixe lá, não se apoquente, que a gente vai fazer os possíveis para não lhe tirar o pão da boca. Não é, Sr. Comissário?
NOTA FINAL —
poucos dias depois, antes que o
castigo fosse decidido e aplicado,
foi dia 25 Abril de 1974. O 153
nunca chegou a ser castigado por não
ter dado um tiro nas costas do
subversivo em fuga (quem sabe, um
comunista) e morreu — em Julho de
2009 — sem nunca ter sabido quem era
o dito subversivo, o potencial
comunista.
O CIGANO VELHO
Uma
Fantasmagoria Ibérica Em Quatro Actos
(1º acto – Os
Trogloditas)
Num dia de um ano, há
muitos anos atrás, em 1997, vinha eu
fresquinho da concentração dos Hell's Angels
em Puy-de-Dôme, quando, já no sul de
Espanha, numa aldeola próxima de Granada —
em La Peza, ou lá como se chama aquele
degredo andaluz — dei comigo num posto da
Guardia Civil por motivos que não são para
aqui chamados.
Sim, claro que sabem,
com toda a certeza: perto do Rio Fardes; do
lado da auto-estrada oposto àquele puticlub
vermelho, enorme, que se vê a mais de um
quilómetro de distância? Exacto, vêem?
Enfim, aí mesmo... onde é que eu ia? Sim, os
trogloditas.
Então, estava eu a
atestar a minha Triumph e os moços, dois
putos novos sem cara pra levarem uma
chapada, só porque tinham uma farda vestida
decidiram implicar comigo convencidos que eu
trazia "hachís"... que eu não trazia, certo?
Por esses dias, já haveria uma meia-dúzia de
anos, pelo menos, que não fumava "hachís"
nem qualquer outra porcaria do género.
Olhem, fumava Camel nessa altura. Camel.
Chatearam-me,
chatearam-me... obrigaram-me a desfazer os
sacos e a mochila e a tenda — só quem anda
de mota é que sabe o trabalhão que é
acomodar a tralha toda em cima da dita —,
depois queriam ver no meio da minha roupa
suja... e queriam que pusesse tudo ali, bem
no meio do chão nojento da bomba de
gasolina. Sem vergonha nenhuma.
Às tantas, acabei por
me chatear a sério e obrigá-los a levarem-me
até ao posto da Guardia Civil mais próximo,
dez quilómetros a sul da auto-estrada, na já
referida aldeola de La Peza, onde apresentei
uma queixa formal acerca do seu
comportamento.
Foi aí, enquanto
esperava pelo superior hierárquico daqueles
retardados, que vi pela primeira vez o
personagem que dá nome a esta história:
o cigano velho.
(2º acto - O
Desterro)
Num dia de um ano
de há muitos anos atrás, em 1997, regressava
eu de mota do único Free-Wheels em que
participei, quando ainda era em Puy-de-Dôme
e vai que, já no sul de Espanha, numa terriola
próxima de Granada — em La Peza, ou lá como
se chama aquele desterro andaluz — dei
comigo num Puesto da Guardia Civil por
razões que não são agora para aqui chamadas.
La Peza é um
lugarejo sem graça: mil e duzentas almas —
se calhar — salpicadas por um amontoado de
betão novo e feio e mal sarapintado de
branco. Branco, sim, mas sem aquela beleza
dormente, continuamente resplandecente dos
pueblos
blancos do muy antiguo y dadivoso Al
Andaluz.
Situado na parte
norte do povoado, o posto da Guardia Civil,
esse então, é apenas um caixote neutro:
aborrecido, burocrático e mal-parecido.
Gradeado. Por grades completamente rodeado.
Inesperadamente alto — quatro andares — não
fui, com toda a certeza, o primeiro a
interrogar-se o que diabo se passaria ali,
naquele fim-do-mundo ibérico, capaz de
justificar um edifício policial com tantos
pisos?
No lado de dentro, a
fealdade anónima fazia pandã com o lado de
fora, monotónica, e a única coisa
genuinamente boa era aquele arrepio que até
congela almas tão típico dos aparelhos de
ar-condicionado espanhóis; uma frescura que
ali se colava às paredes enfadonhas dos
corredores cobertas de azulejos entediantes,
contrariando assim a canícula costumeira do
exterior naquela época do ano.
Quando me sentei no
banco corrido da sala de espera, bem de
frente para o guiché administrativo, não
reparei logo no cigano velho. Na verdade,
foi ele o primeiro a trocar palavras entre
nós.
O gordo que o
guardava — esticando-se desde o outro lado
do banco — agarrou-lhe rápida e brutamente
no braço quando ele, apontando para o maço
de tabaco que eu colocara sobre o banco a
meu lado, me perguntou se "podia". Só pela
reacção do imbecil, que me irritou
solenemente, só para chatear, disse logo que
sim e eu mesmo abri, sem mais demoras, o
topo do pacote de Camel e ofereci-lhe o
conteúdo. Desta vez sem qualquer oposição,
lá conseguiu retirar um cigarro do interior.
O cretino que o guardava parecia já não se
importar. Isso desagradou-me, confesso.
Saquei o zippo do
bolso do blusão de cabedal e dei-lhe lume.
Saboreou o fumo com
lentidão e inclinou a cabeça para trás,
quase até tocar na parede gelada. Por
inveja, acendi também um para mim.
Não ofereci nada ao parvalhão, claro.
(3º acto - O
Fantasma)
Num dia de um ano de
um grupo de anos diferentes, em 1997, vinha
eu cansado, mas tranquilo da vida da
concentração dos Hell's Angels de
Puy-de-Dôme e não é que dou por mim no sul
de Espanha, numa aldeola não longe de
Granada — em La Peza, ou lá como se chama
aquele exílio andaluz — na sala de espera de
um posto da Guardia Civil por motivos que
não são para aqui chamados, fumando cigarros
com um fantasma cigano?
Segundos depois, quando voltou a sentar-se direito, lembro-me que ele olhou para mim como se me conhecesse desde sempre. Com a naturalidade de um reencontro entre velhos amigos, falou. E lembro-me perfeitamente que, como numa seguiriya[1], a voz era triste, funda e fúnebre, arrastada. Falava devagar, suspirava muitas vezes entre as palavras e dizia pequenas frases (mais ou menos) relacionadas:
Sou de Jerez e fui
rei
Antes de vos
contar o restante da história, porém, tenho
de confessar uma coisa bem estranha que
então sucedeu; por si só, os andaluzes já
têm o hábito quotidiano de estropiar a seu
bel-prazer o vocabulário da língua de
Cervantes, transformando cada palavra de
cada frase numa autêntica charada
encriptada. Até para mim, que aprendi o
linguarejar do Sul, primeiramente, nas lojas
da rua das lojas de Ayamonte e, mais tarde,
nos bares e
tablaos
de Sevilla e da Isla Cristina, até para mim,
dizia, a andaluzada é — não raramente —
difícil de entender. Ora, no presente caso,
se à algaraviada andaluza, juntarmos
igualmente o pesado sotaque do
caló[2]
que a voz de Mateo carregava, ainda hoje
estou para perceber como compreendi tudo,
mas tudo mesmo, o que ele me dizia.
Tal fenómeno, só o voltaria a testemunhar seis anos mais tarde no Japão. Mas divago. Adiante que o drama, por fim, se desenrola.
Levava o cigarro à
boca entre as tiradas obscuras que gerava e
inspirava o fumo, sôfrego. A dada altura,
deixou-o cair no chão axadrezado e foi
quando notei que lhe faltava um dos sapatos.
Reparou que eu tinha reparado e sorriu
tristemente, emitindo um som, estranho,
algures entre um riso e um suspiro.
Resmungou então qualquer coisa em
caliche[3]
e descalçou o outro também. Introduziu a mão
lá dentro e produziu, à frente de toda a
gente, uma excessiva e pontiaguda navalha
que, de um gesto só, abriu e cuja lâmina
logo me enterrou no pescoço, dois dedos
abaixo da minha orelha direita.
Desta vez, o gordo
que o devia guardar, nem buliu.
Cabrón.
[1]
Seguiriya (de seguidilla):
estilo de cante flamenco geralmente
composto por quadras com versos de
seis (ocasionalmente sete) sílabas,
excepto o terceiro verso composto de
onze (ocasionalmente doze) sílabas;
[2]
Caló (ou Zincaló): língua de
origem romena falada pelas
comunidades ciganas de Espanha e
Portugal;
[3] Caliche: mesmo que caló;
(4º acto – A Morte Do Artista)
Num dia de um ano de
um universo diferente, em 1997, vinha eu já
cansado desde a concentração dos Hell's
Angels de Puy-de-Dôme e não é que dou por
mim, por motivos que não são para aqui
chamados, no sul de Espanha, numa aldeola
não longe de Granada — em La Peza, ou lá
como se chama aquele remanso de pó andaluz —
... não é que dou por mim, dizia, esfaqueado
no pescoço por um fantasma cigano na sala de
espera de um posto da Guardia Civil?
Caí. Sem
espectáculo, sem coreografia, sem
salero.
Simplesmente deitei-me sem pressa no banco
corrido da sala de espera sobre o lado
esquerdo do meu corpo estafado. Depois
deslizei — devagar, como que em câmara lenta
— sem música ou efeitos especiais, até ao
sossego frio do chão. Apesar do medo,
soube-me bem, pois o sangue quente que
golfejava ininterrupto do meu pescoço, por
motivos que não consigo esclarecer,
queimava-me as mãos e os pulsos.
Eu nunca vira a
morte, assim, tão próxima. Já algumas vezes
a tinha visto lá fora, na estrada, em fugaz
relance. Sempre tinha tido a impressão que
não ia chegar a velho e imaginava — confesso
que sim — imaginava como seria morrer num
acidente de mota: como um míssil de duas
rodas, num sonoro estoiro de pompa e
circunstância. Nunca assim, no silêncio
derrotado de um chão rubicundo, aquecido
pelo meu próprio sangue.
E, para complicar
tudo, à medida que o meu sangue largava o
meu corpo como lastro, a minha... huum...
alma... o meu espírito começava
desprender-se e a elevar-se. Sim, isso
mesmo. Como nos relatos esotéricos de morte
temporária, alguns instantes depois de tocar
no chão, comecei a sentir a minha
consciência, todo o meu campo de visão, a
solevar-se e a ver — claramente vista — a
cena de uma posição superior, como se
esvoaçasse pela sala de espera do posto da
Guardia Civil de La Peza, perto de Granada,
na Andaluzia, em Espanha: lá estava eu, lá
em baixo, como uma ilha, rodeado por
aproximadamente cinco litros de mar
vermelho.
Que situação tão
perturbadora para me aperceber que, se
calhar, o padre Henrique tinha razão
nalgumas coisas que dizia. Para juntar à
miséria, só me faltava uma luz muito intensa
e música celestial.
Todavia, tudo o que
senti foi um vento cortante e sonoro que —
literalmente — me regelou o espírito, pois
enquanto esvoaçava pela sala, aconteceu a
minha alma pairar muito próxima do enorme
aparelho de ar-condicionado.
O efeito esternutatório foi imediato. Senti o meu nariz vibrar e o meu corpo contrair-se num espasmo impossível de conter. Fechei os olhos e... espirrei estrondosamente.
Tão forte foi o
ruído que abri os olhos assustado e dei por
mim sozinho, sentado no banco corrido da
sala de espera. Num reflexo, procurei a
facada, dois dedos abaixo da orelha direita.
Sem sucesso. Nem facada, nem sangue...
apenas algum ranho e saliva nos queixos,
devidos, sem dúvida, ao violento espirro que
me trouxera de volta a este universo
diferente do ano de 1997, num pardieiro
questionável na Andaluzia profunda.
Olhei de novo à volta, agora já mais tranquilo: tudo tranquilo. Do lado de dentro do guiché, os versos de uma seguiriya típica de Jerez de La Frontera ecoavam, doridos:
Yo no soy de esta tierra
no conozco a nadie.
El que jisiera un
bien por mis niños
Dios se lo pague.
Nada de inusual na sala de espera do posto da Guardia Civil de La Peza... excepto, talvez, um sapato de homem, preto, sem dono, mesmo debaixo do banco corrido.
El Loco Mateo
Mateo de las Heras Carrasco (Jerez de la
Frontera 1839 – 1887?) fez escola como
atribuem o seu nome artístico a uma
sensibilidade muito extrema, outros a
neurose.

UN BON MAITRE D'ARMES

Era ainda um
adolescente quando pratiquei esgrima pela
primeira vez.
Das três
disciplinas de esgrima olímpica, o sabre é a
que apresenta regras de combate ligeiramente
diferentes: por exemplo, é a única que não
admite ataques em
flèche[1],
mas permite, por outro lado, que o toque
seja válido não só quando executado com a
ponta, mas também com própria lâmina da
arma, algo que não acontece com o florete e
a espad... mas reparo que estou a esticar-me
com esta conversa num sentido (tecnicista)
que não me interessa agora para nada. Já o
que me interessa sempre, sim, são as partes
"mais filosóficas" destas actividades mais
brutais. Um pouco como se precisasse de
justificar – perante mim mesmo, sobretudo –
esta minha tendência natural (?) para a
violência... ou, pelo menos, a minha
evidente predilecção por passatempos de
cariz mais... confrontante.
“o objectivo
da esgrima é dar e nunca, de modo algum,
receber.”
Precisei de ler “O
Mestre de Esgrima” de Arturo Pérez-Reverte
para me lembrar que não recordo nada acerca
do meu primeiro instrutor: nome, idade,
nacionalidade... nada. Talvez por isso mesmo
vingou a minha indisciplina adolescente
sobre a disciplina do sabre olímpico e não
mais a voltei a praticar essa arma.
transmitir o valor intrínseco
da vida do que
alguém cujo mister
principal é terminá-la?
Por outro lado, o
valor simbólico do acto do confronto,
ressoa-me sempre muito para além das meras
medições de forças do reino animal. Sim,
porque o resultado natural do conflito é –
sempre –, mais tarde ou mais cedo, o
(re)conhecimento dos próprios limites
físicos. Se, para além disso, for ainda
necessário lidar/gerir uma situação de
derrota face a um adversário
reconhecidamente mais forte, então aí,
entramos no campo da educação cívica... pura
e simples.
E é precisamente
nessas situações de frustração pessoal,
física e intelectual – nesses momentos em
que “morremos um pouco” – que o mestre
d’armas tem o poder de nos ressuscitar, ao
relativizar e transformar as mais amargas
derrotas em lições de vida indispensáveis
para o futuro.
Um bom maitre d’armes é um oráculo.
O OFÍCIO
99% das vezes, as nossas
manhãs não eram assim lá muito produtivas. Há que
dizê-lo.
Além do mais, o termo
"rápido" é praticamente inexistente na linguagem de
Angola. Aliás, ousaria dizer mesmo que a noção de
tempo é, em terras da rainha Ginga, completamente
distinta do resto do mundo.
Obviamente, não é muito difícil de perceber que a pontualidade, essa, para grande tristeza minha, seja de uma subjectividade total na antiga pérola do império português. Mas sejamos justos: como se pode ser pontual num país onde nada funciona?.
— Mandaste-me uma mensagem a cancelar a reunião??? Quando?
— Ontem... às sete e meia.
— Aaaah, f***-se pá... o móvel ficou sem bateria por volta das sete.
— E porque não o recarregaste?
— Quando cheguei a casa já não havia luz.
— E o gerador?
— Está sem gasóleo.
— E não foste comprar mais?
— Fui, mas as bombas estavam fechadas, como é costume...
— E foste a quais?
— Fui só àquela ao pé da minha casa, na avenida.
— E porque não foste a mais?
— Pá, já não tenho muita gasolina no carro.
— Então, na mensagem eu dizia-te que...
Luanda era,
nesses dias, uma cidade complicada. Tirando
uma vez em que demorei "apenas" quarenta e
cinco minutos, às três da manhã (na bomba da
Sonangol ao pé do largo do Lumeji)
nunca me lembro de estar menos de uma hora
na fila para a gasolina. Num dos maiores
produtores de petróleo da África, as bombas
de gasolina estavam amiúde encerradas e sem
combustível e, quando abertas, as filas
estendiam-se por quilómetros, muitas vezes
acabando-se o carburante antes mesmo de
todos os condutores conseguirem abastecer.
Trabalhávamos. Isso. Sim
e trabalhámos bem e até fizemos coisas
interessantes. Infelizmente, para coroar
completamente a frustração, também não me lembro de
um só trabalho que tenha sido publicado — ou
produzido sequer — enquanto lá estivemos. Um
verdadeiro desperdício, mas não tínhamos outra
hipótese. Sem qualquer material profissional, usando
os nossos próprios computadores, internet a vapor e
uma impressora ranhosa do período neolítico,
desunhávamo-nos para conseguir criar, desenvolver e
maquetizar campanhas publicitárias e apresentá-las a
tempo e horas aos clientes que as tinham
encomendado:
CLIENTE
(meio-trôpego e cheirando a whisky) — Ah...
você já aqui está?
.....
* Foto: Verynice e Pula di Bala (Angola 2007)

MALÁRIA, CONSTIPAÇÕES E O BAIRRO DOS BANDIDOS

Éramos os três de sempre: eu, o Verynice e o Pula di bala. E lá estavamos nós, ainda nem era manhã, à porta de uma clínica privada, muito fora da nossa zona de conforto, no meio do largo dos candongueiros do musseque do Cazenga, uma dezena de quilómetros a sul... A sueste do centro de Luanda.
Pagar? Para a empregada ir ao médico? Que ideia ridícula. Se ela não conseguia trabalhar, o melhor seria arranjar outra pessoa para o cargo.
Recordo-me perfeitamente do dia em que pensei que tinha malária.
Felizmente, não era malária.
Em 2007,
nesse mesmo ano, em Portugal
cresceu 2,5%.
o PIB de Angola cresceu
CATORZE PORCENTO.
A realidade da malária, porém, é muito mais séria, sobretudo para quem não vive num Bairro Azul como nós vivíamos, mas leva uma vida inteira no meio do fedor misturado de água podre, terra suja e merda pura que cobre as ruas sem nome dos bairros de lata de Luanda.
Será talvez curioso comentar nesta altura que, quando posteriormente informámos os nossos empregadores da forma como tínhamos passado essa manhã, fomos rispidamente repreendidos pelo nosso gesto perfeitamente inconsciente: arriscar-se assim num bairro assim — para mais, para levar a criada à clínica — era indesculpável e um completo absurdo.
— E os bandidos? Não pensaram nisso, claro. Lembram-se? Isto aqui não é Lisboa.
Os bandidos, claro. Os famosos bandidos de Luanda. Pois não sei. Não vimos.
Vimos, um pouco depois das seis, diria eu — ainda mal o sol começava a sua escalada quotidiana pelo azul acima — as centenas, os milhares de angolanos, vindos de todos os pontos cardeais à nossa volta, a desaguar como um rumor, no largo dos candongueiros.
Vimos, numa maré agitada por ondas azuis e brancas, mar alteroso acolhendo o rio de murmúrios matinais, os ditos candongueiros... A carregar duas mamãs e mais seis estudantes e mais três kotas e mais os sacos e mais as bilhas de gás e mais o cão e mais duas cabras. Bem arrumados ainda iam cabiam mais três — mas os onze clientes, amontoados pelos oito lugares disponíveis — protestavam que não eram gado.
Vimos o pó habitual: matinal, fino e teimoso; persistente e insolente.
Vimos corpos magros e secos, sorrisos sérios, olhos desencantados, cegos para ver mais longe do que o aqui.
Vimos um verdadeiro exército com ordem de marcha. O exército das empregadas com malária e da criadagem variada das casas dos grandes patrões brancos da Luanda asfaltada.
Bandidos, ainda não seria dessa.
.....
* Foto: a parte "boa" da
cidade. Luanda, 2007
foto por Beth Balbon / wiki commons
A SINETA

Devo ter batido
um recorde qualquer, com toda a certeza, pois
detestei aquele bardamerdas desde o primeiro
segundo em que o vi.
M
ainda sou a mesma!
Livre e esguia, filha eterna de quanta
rebeldia
me sagrou.
Mãe-África!
ALDA LARA
(1930–1962)
Sentada à entrada da
"favelinha" — como chamávamos à rua sem
saída onde se situava o escritório — Mamã
África, presenteava-nos todos os dias, logo
pela manhã, com um sorriso franco e branco.
Ali, na berma do passeio, com uma pequena
fogueira de pedaços de madeira e carvão
aprisionada entre umas pedras e uns pedaços
de tijolo, a Mamã vendia, a quem quisesse
comprar, a mandioca que cozinhava a toda a
hora numa frigideira enorme e preta.
Vai pr'a tua terra, branco filho-da-puta!!
logo na primeira semana, por um jovem habitante de Luanda).
Depois, surgiu a
maldita da sineta.
E aquilo foi-me
enchendo o bucho.
— Não é tarde nem
é cedo. — disse-lhe em voz baixa — tu vens
já comigo.
Ao som de mil aplausos
retumbantes,
Entre os netos da Ginga,
meus parentes,
Pulando de prazer e de
contentes —
Nas danças entrarei d'altas
caiumbas.
Luís
Gama
(1830-1882)
O Pula di bala
sugeriu que fossemos até à Baía de Luanda e,
num cerimonial meio-punk, atirássemos a
porcaria do badalo para o meio do oceano.
Mas eu disse-lhe que não.
— Mamã, tenho um
presente para si. Para atrair mais clientes.
A satisfação nos olhos, a alegria emocionada na voz, só podem ser comparadas com o prazer que me causou, durante todo o dia, o som celestial da sineta entrando pela janela — propositadamente aberta — do escritório.
MANTORRAS PRISIONEIRO
11 de março de
2007, domingo.
— Amanhã tenho de
ir para o Cacuaco, mas eles, até hoje que é
domingo e tudo, andavam à caça de
portugueses. Tudo por causa daquele filho da
puta...
Com a voz
arrastada por um soluço, por fim, lá
consegue ganhar coragem para mostrar o seu
medo. Por entre as lágrimas, as palavras
agora escorrem-lhe também,
descontroladamente, pela face abaixo:
— Eu não quero ir
trabalhar, amanhã. Porra, não quero. Não
quero acabar na esquadra de Luanda. Filhos
da puta.
E eu, que sempre
tanto prezo a minha eloquência, não encontro
nada para lhe dizer. Ainda penso em
contar-lhe como o Verynice e o Pula di bala
foram penteados[1],
hoje mesmo, a caminho da Ilha de Luanda, mas
tenho bom senso de, por uma vez, manter a
minha bocarra fechada. Ele acaba o cigarro
entre soluços silenciosos e volta para
dentro; apercebendo-me que já perdi o
pôr-do-sol, sento-me no chão da varanda.
Encostado ao muro, suspiro e acendo o
milésimo Jogador do dia... e o primeiro da
noite. Que tabaco horrível: seco, sem
pontinha de sabor. Parece palha.
Nunca atribuas à maldade algo que pode
ser
No dia 5 de março
de 2007, aproximadamente às 09:40 da manhã,
o cidadão angolano Pedro Manuel Torres, mais
conhecido como Mantorras, ponta-de-lança do
Benfica, foi apanhado numa operação stop na
Torre da Marinha, no Seixal, quando se
dirigia para o Centro de Estágio do Benfica.
Já em Luanda, a
narrativa foi muito diferente. Durante toda
essa semana, os boatos sucediam-se a uma
velocidade supersónica: preso, algemado,
sovado, torturado... No imaginário popular,
não houve violência ou abuso ou humilhação
que o pobre Mantorras não tivesse sofrido,
nesses dias.
Na sexta-feira,
dia 9, o Ministro da Administração Interna
angolano decreta pela televisão que, a
partir desse momento, as cartas de condução
portuguesas deixam de ser válidas em
território angolano e, ao mesmo tempo, dá
carta branca a todas as forças policiais de
Angola para implementarem o novo preceito. A
porta estava escancarada para o que seriam
onze dias de verdadeira caça — sem aspas —
aos condutores portugueses.
Na prática,
porém, pouco mudou. Durante estes onze dias,
tirando uma frequência e agressividade
maiores, os polícias de Luanda continuaram a
fazer jus à sua fama de corruptos e a gasosa
— gíria para um pagamento pontual para ser
deixado em paz — apenas se limitou a ter a
tarifa inflacionada.
Claro que houve
alguns exageros. Em situações em que o
orgulho nacional — seja lá isso o que for —
é posto em causa, há sempre alguns
personagens um pouco mais inflamados. Podia
contar-vos histórias (verdadeiras) de
portugueses detidos na ponte do rio Kwanza e
obrigados a sentarem-se à beira da estrada,
debaixo do sol escaldante, durante todo o
dia de sábado... Ou da passeata dos jipes da
polícia buzinando por Luanda e exibindo nas
traseiras, na caixa aberta, dezenas de
"criminosos portugueses" em pânico.
Money makes the world go
around,
POLÍCIA
ANGOLANO — Vocês prenderam
o meu compatriota Mantorras, lá na Tuga.
VERYNICE
(com um grande sorriso) — Não, não, não, ele
já foi libertado. Já. Já foi.
POLÍCIA
ANGOLANO — Não interessa.
Eu agora podia levar-vos para a Esquadra de
Luanda para aprenderem...
PULA DI BALA
— Então... e não há outra maneira de a gente
resolver isto?
POLÍCIA
ANGOLANO — Tens kumbu?
VERYNICE
— Heuu... 50 dólares... ?
POLÍCIA ANGOLANO (dando-lhe um envelope branco) — Põe todos aí dentro.
[1]
Pagar para não ser molestado pela
polícia;
[2]
Nome popular dado aos membros da
Policia de Intervenção;
.
PRIMEIRAS IMPRESSÕES

— E vamos ao Elinga
esta noite, certo? — diz-me ele, antes de
voltar a entrar na casa.
Fico sozinho na
varanda das traseiras da "casa de passagem"
que nos serve de escritório e acendo um
Jogador, sem nunca deixar de olhar para
paisagem que se estende agora sob o meu
fumo. A varanda tem vista para uma rua que,
noutros tempos certamente, deve ter sido o
orgulho dos seus habitantes. Como inúmeras
ruas da chamada "parte asfaltada" de Luanda,
é estreita e as casas térreas, de um lado e
de outro da artéria, quase todas apresentam
na parte da frente, restos do que deve ter
sido um pequeno jardim murado. Sem que o
consiga evitar, o meu Bom João natal vem-me
imediatamente à memória.
Mas aqui a realidade
é bem diferente:
"— Luanda não é como
Lisboa.
E assim ficámos — eu,
o Pula di bala e o Verynice — durante uns
dois dias ou coisa que o valha, reféns dessa
recém-adquirida ignorância, por detrás dos
muros altos de uma enorme casa no Bairro
Azul, escondidos dos bandidos, usufruindo
apenas da nossa companhia e da dos
engenheiros da empresa. Na verdade, nem
isso. Os tipos com quem partilhávamos a casa
deitavam-se religiosamente às oito da noite,
visto terem de se levantar todas as matinas
por volta das cinco para enfrentarem — pelo
menos, pelo menos — umas três horas de
trânsito selvagem, com o único objectivo de
percorrem os modestos vinte quilómetros que
separavam o Bairro Azul do armazém-sede da
empresa situado no Cacuaco, logo ali a
seguir às antigas instalações da refinaria
de Luanda.
Felizmente, ao
segundo ou terceiro dia, um conhecimento
externo à empresa, mencionou a existência de
"um sítio muito louco" chamado Elinga. O
Elinga Teatro, bem no coração da cidade e
aberto a partir das oito da noite,
tornou-se, desde o primeiro momento em que
lá pusemos os pés, o nosso poiso, o nosso
segundo lar, o meu oásis.
Em caso de dor, dance.
(Grafitti
na parede do Elinga Teatro)
Ou, no meu caso,
beba. As quantidades industriais de todos os
tipos de bebidas alcoólicas que lá consumi e
a sofreguidão com que o fiz, atestam bem
como "oásis" é a palavra que mais
adequadamente descreve a minha relação com o
local.
— Hei, amigo. Pula di
bangô. Amigo.
Uma voz de criança
faz-me voltar à varanda do escritório. Olho
para baixo e uns dos inúmeros miúdos da rua,
talvez com uns sete ou oito anos, olha-me
ansiosamente, enquanto tenta a sua sorte:
— Amigo, tem uma
maçã?... Dá uma maçã, dá.
BEM-VINDO A LUANDA

O fedor.
Foi a primeira
coisa que senti. Como um soco. Ainda as
portas do avião não estavam completamente
abertas e já o meu estômago se dobrava sobre
si próprio e, com muita dificuldade, lá
conseguia evitar que os meus primeiros
momentos em África coincidissem com o meu
primeiro vómito do ano de 2007.
Nos três meses
que se seguiram, seguindo o adágio popular
que diz que, com o tempo, nos habituamos a
tudo, acabei também eu por me habituar
àquele cheirete húmido, fétido e
omnipresente. Habituei-me também a não
esperar nada do que tinha esperado em
qualquer outro dos lugares onde já tinha
estado. Coisas simples como água, luz, sei
lá eu... gasolina, segurança.
Mas para falar
verdade, o pior foi ter de me habituar a
imensas outras coisas que nunca pensei que
seria capaz:, nomeadamente, às pessoas em
pedaços, mendigando pelas ruas entupidas de
jipes e carros de luxo; sem mãos, sem
pernas, braços... sem metade da cara.
Habituei-me a conviver com a miséria humana
numa escala como nunca tinha visto antes.
Habituei-me... não me habituei nada. Quer
dizer, habituei-me apenas a olhar pro outro
lado.
EU – Estás
aí há uma dezena de anos, como é que é a
vida aí?
Dormi a quase
totalidade desse voo nocturno de Lisboa para
Luanda.
FUNCIONÁRIO
– Hoje ieufhawek reljfi um cafezinho.
Ele, fazendo uma
cara misto de cansaço e paciência,
esclareceu-me, por fim:
FUNCIONÁRIO
– Hoje eu ainda não bebi nenhum cafezinho.
EU
– (sem perceber) E...?
FUNCIONÁRIO
– Tens dinheiro?
Olhou para mim.
Olhou para o meu passaporte na mão esquerda.
Olhou para o carimbo levantado na mão
direita. Repetiu, em voz alta:
FUNCIONÁRIO
– Tens dinheiro?
Balbuciei que sim, que tinha 5 euros. Perguntou-me se eram 5 euros em moedas ou em notas. Disse-lhe que era uma nota. Ordenou-me que lha desse, o que eu fiz. Depois, passados alguns segundos (suponho) que pareceram uma eternidade, misericordiosamente, aquele filho de uma grandessíssima puta, lá fez o favor de carimbar o meu maldito passaporte.
O MAU EMIGRANTE
Traduzo. Nunca
penso em inglês.
Pelo menos, nunca coisas
sérias.
Os meus pensamentos involuntários
criados em língua inglesa são sempre (e
apenas?) sound-bites, provavelmente
recuerdos
inconscientes e involuntários de milhentos
filmes americanos e de letras de músicas rap
— onde abundam os "fuck", os "shit", os
"motherfucker" e outras pérolas semelhantes
— obviamente ofensivas para os nativos da
língua de Shakespeare.
“estes
imigrantes são como baratas (…)
Na minha família, a
emigração — sobretudo a da "época de ouro"
do êxodo lusitano para fora de portas, nas
décadas de 60 e 70 do século passado — é uma
instituição com alicerces tão profundos
quanto remotos: da Europa (Bélgica, França,
Holanda, Suécia, por exemplo) aos
continentes americano e africano (Brasil,
Venezuela, Canadá, EUA, Angola e África do
Sul) e, passando ainda além da Taprobana,
até na desgraçadamente longínqua
Cangurulândia. E isto são apenas os sítios
que a minha mãe se lembra.
— Aquela casa além
foi mandada construir por uma prima do teu
pai, a Guilhermina, dos Lentiscais, que está
na Austrália e que casou com um moço (de ali
de ao pé, do Esteval dos Mouros) chamado
Manel dos Cucos.
Ou uma coisa assim
desse género. Aliás, os nomes dos primos
emigrantes da família são sempre "muito
algarvios", nomes como Gregório, Arsénio
(que nome espectacular), Patrício e Inácio;
frequentemente casados com Quitérias,
Zélias, Amélinhas e Felisminas. Eles e elas
oriundos de lugares cujas designações
parecem sempre falsas ou inventadas à
pressa: Almeijoafras de Baixo, Monte do
Parral, Cerro da Monchina, Casa dos Pires...
Mas, como se vê, todas dignas de figurar nas
palavras cruzadas do jornal da Associação
Portuguesa de Toponímia.
Todo o imigrante
que aqui chega devia ser obrigado a aprender
inglês
Começa que não
consigo aturar esta estrangeirada durante
muito tempo. Tudo bem, eu também já reparei
que, como vivo e trabalho no estrangeiro, as
probabilidades de me cruzar com estrangeiros
são (bastante) elevadas... Eu sei, eu sei...
Mas é mais uma questão de tempo. O que quero
dizer é que, ao fim de dois anos (mais mês,
menos mês) fora de Portugal, tudo me começa
a irritar: a começar pela língua, lá está.
Juro, nunca percebi
como os meus familiares emigrantes conseguem
meter tanta estrangeirice no seu discurso,
enquanto eu não quero ter de falar inglês
nem em Inglaterra. Eles, não; eu bem que os
ouço aí, em Portugal, quando falam uns com
os outros: em cada três palavras, uma é em
português, uma na língua do país onde estão
emigrados e a terceira, acho eu, em klingon.
No próximo mês, "o bom emigrante".

UMA DERROTA ENSINA MAIS DO QUE MIL VITÓRIAS
(2ª parte)
(Primeira entrevista de emprego em Woodlands ― Hospital de Saúde Mental em Hastings, Reino Unido).
EU (apanhado de surpresa) ― Heuu... bom, assim de repente, não sei...
ENTREVISTADOR ― Exacto, Jóyâcueimmeh. Exacto. Essa é resposta certa! Exacto.
Não foi capaz de dizer com uma qualquer percentagem de certeza: foi nessa hora ou nesse dia ou nessa semana... E, um pouco como na anedota verídica contada logo acima, por fora não houve nada que fizesse reparar numa mudança. Por dentro, no entanto, as coisas foram mais complicadas.
Sei que o meu amigo deu por ele sentado numa conversa informal com uma psicóloga nas instalações da Fundação Isabel Blackman em St. Leonards-On-Sea.
Aí, às quintas-feiras ― se a memória não me trai ― a organização Health in Mind patrocinava uma tarde de consultas pro-bono (e, pormenor muito importante, anónimas) com uma série de jovens e não-tão-jovens psicólogos que, muito gentilmente, cediam o seu tempo para ajudar a comunidade, efectuando uma espécie de retrato psiquiátrico, voluntário e gratuito, da população do bairro.
Uma vez, enquanto jantávamos ― às 3 da matina
na sala do pessoal em Woodlands ― o melhor enfermeiro
de saúde mental que conheci disse-me uma coisa assim do género:
"Só há dois tipos de pessoas: umas que têm medo da morte
e outras, da loucura."
Não sei se é verdade ou apenas uma tirada pseudopsicológica, mas esse meu amigo de que vos falo, nesse ano de 2014 (confessou-mo), teve inúmeras vezes ― genuinamente ― medo de estar a enlouquecer.
O acumular de contactos disruptivos que a convivência (quase) diária com os pacientes de Woodlands lhe proporcionava, começou a provocar algumas brechas na sua (já de si não muito famosa) estrutura psíquica.
Para sua defesa, há que ter em conta uma série de factores que contribuíam bastante para a situação; senão, vejamos: encontrava-se numa terra ― para todos os efeitos ― estranha, forçado a comunicar uma língua que não lhe era (nem nunca lhe será) nativa, a trabalhar numa área que nunca tinha sido sequer sonhada nos seus devaneios profissionais mais alucinados; distanciado de todos os que amava, gostava ou simplesmente conhecia... Enfim, longe de tudo aquilo que, uns meros três anos antes, tinham sido as suas zonas de conforto pessoal, social e ocupacional.
E sim, a vida romântica, ou sentimental, do meu amigo ― caso estejam a perguntar-se ― também era uma perfeita merda, nessa altura.
Por isso tudo, talvez, soube-lhe bem, a ideia de ter alguém com quem falar.
E bem queria, mas esta vergonha ― dos homens da Europa do sul? ― de mostrar (qualquer tipo de) vulnerabilidade é mesmo fodida.
Não deixa de ser curioso que podes escrever poesia, prosa ou teatro sobre as tuas fraquezas; podes pintá-las, podes filmá-las, podes musicá-las... olha, compor desde faduchos choradinhos de três minutos a óperas heróicas de três horas, tudo dedicado às tuas misérias mentais e/ou psicológicas que não há qualquer problema: é apenas arte. Está tudo bem. Não é a realidade. É uma grande metáfora. Ele não é assim... Ele tem uma grande imaginação, lá está.
Lá está, podes fazer tudo... Só não podes queixar-te. E quando te queixas, se te atreves a tal, falas sempre como se estivesses a falar de uma terceira pessoa:
― Ah e tal, tenho um amigo que assim e assado...
Mas, também, que diabo, homem que é homem não anda por aí a lamentar-se a estranhos. Come e cala, e aguenta-se à bronca... E, para mais, o quê? Saúde mental e depressão e paranóia e essas paneleirices modernas? Antigamente não havia nada disto. Pareces uma gaja, pá. Tás triste, bebe uns copos que isso passa.
Somos todos machos latinos.
Mas o meu amigo não queria ser macho latino.
Nada disso. Aos cinquenta e poucos anos, queria era finalmente identificar o mal que o atormentava. Fitar a forma exacta do punhal que, traiçoeiro ― sempre cobardemente ―, lhe esfaqueava a lucidez e a sangrava até que, da realidade, não lhe sobrassem mais do que dúvidas.
Voltou para casa, derrotado.
Silenciado pelo medo de falar e pela vergonha do seu silêncio.
Deu por si, sozinho na segurança do seu quarto, adornado com um adereço improvisado e, como quem busca preservar uma lição de vida inestimável, decidido
a fotografar a sua vergonha, a sua loucura.
Mas só por fora:

UMA DERROTA ENSINA MAIS DO QUE MIL VITÓRIAS
(1ª parte)
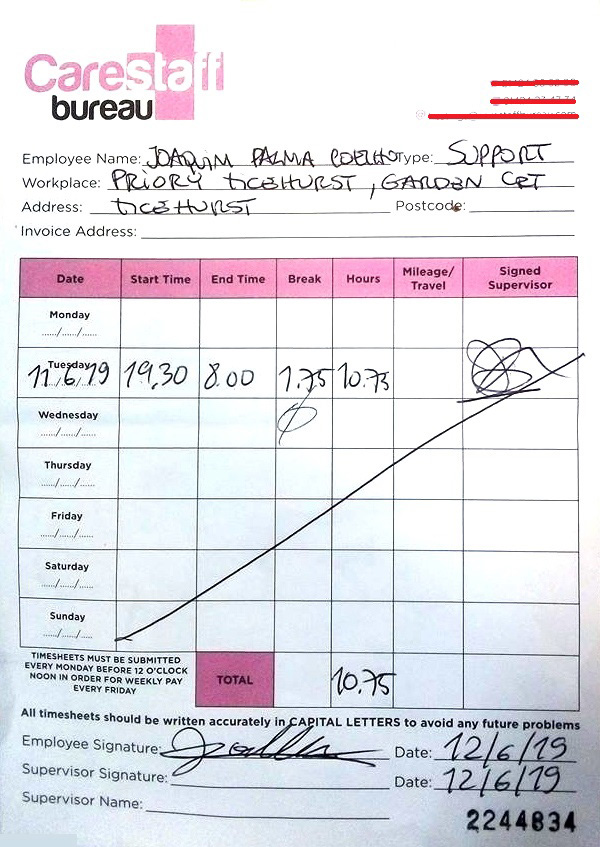
Acerca de uma
doente mental, dizia-me o patrício da Fuseta
assim:
No meu CV
costumava descrevê-la assim: "permanecer,
tanto quanto possível, mentalmente são,
enquanto se ajuda pessoas que (pelos motivos
mais variados) têm alguma dificuldade em
fazer isso mesmo;"
Pode ser
extremamente frustrante ser AAM de saúde
mental e, neste caso, foi mesmo! Até porque,
como já dizia o outro
Pois também eu
nunca antes tinha sido agredido no exercício
das minhas funções.
Que porra! Não
podia ter sido nos queixos do outro imbecil
da Fuseta?
NOTA
FINAL: tenho sempre imenso receio
que estas palavras que escrevo acerca da
minha experiência enquanto auxiliar de saúde
mental, se transformem numa procissão de
faits divers ― mais ou menos
tragicómicos ― ou, pior ainda, num mero
inventário das bizarrias que tive o azar de
testemunhar.
Matrix Total
Peter Gold, Estrela do Glam Rock
e comandante-operacional do
Baader-Meinhof no Sussex
Ele tinha acabado de chegar a Woodlands para ser internado ― compulsoriamente, como era hábito ― quando me perguntaram se eu me importava de ficar com ele na sala de reuniões até que o psiquiatra de serviço, o enfermeiro e aquela malta toda que tem de estar presente na consulta de internamento estivesse disponível. É óbvio que não me importei. Que é que ia dizer-lhes: "Ah... não, hoje já tenho outros planos?" Adiante. Entrei na sala e lá estava ele: uma figura... elegante; um ar de artista decadente, sei lá eu, barbudo, guedelhudo, de aspecto um pouco cansado, mas sobretudo, com um olhar feroz.
Na sua maneira de ver ― contou-me mais tarde ― nada justificava aquele internamento forçado. Tudo não passava de (mais) um plano da irmã e, claro estava, da enfermeira-chefe Camelia para lhe ficarem com a fortuna resultante dos milhões de álbuns vendidos nos anos 70, quando era uma estrela do glam rock e conhecido mundialmente com o nome artístico Golden Star. E eis que, no meio dessa injustiça descarada e furiosa, apareci eu e, para mais, com a lata de lhe dizer o quê? ― Boa-tarde! É claro que não podia dar bom resultado.
― Boa tarde? Boa tarde? Que é que há de bom nesta tarde? Suponho que a seguir ainda me vais dizer que está tudo bem e que me vou sentir muito melhor?!? ― gritou-me. ― "Pois bem, não faço a mínima ideia de quem és, não te quero ouvir e não te digo mais nada".
A verdade é que, com o passar do tempo, e apesar desta apresentação não muito famosa, acabámos por falar frequentemente. Acontece que, quando já estava melhor, não obstante usufruir de
section 17* para três ou quatro saídas semanais, a maior parte dos trabalhadores de Woodlands tinha medo dele e, assim sendo, era-lhe bastante difícil arranjar alguém que o acompanhasse. Bastante difícil...
excepto nos dias em que eu estava de serviço, claro.
(Sempre tive uma atitude descontraída em relação às saídas supervisionadas com pacientes e, tirando um puto escocês que se atirou para cima de um carro em andamento mal saímos as portas da clínica de Langford, nunca apanhei assim grandes sustos.)
Apesar do tom um bocadinho áspero na voz e no aspecto, Peter Gold ― o tempo também se encarregou de mo mostrar ― podia ser, na maior parte das vezes, um paranóico esquizofrénico bastante sereno. O seu destino favorito, a loja de conveniência na esquina da Ridge com Harrow Lane, situava-se a uns vinte ou trinta minutos de caminho do hospital... isto porque caminhávamos sempre pela Ridge afora da mesma maneira como conversávamos: sem objectivo aparente.
Nunca me lembro de o ter visto comprar senão tabaco, chocolates,
refrigerantes... e, envelopes e papel de carta. Magotes de envelopes e de papel de carta que usava, obviamente, para escrever cartas.
Sim, cartas endereçadas à rainha Elizabeth II e respectivos ministros.
Aproveitava também, obviamente, para colocar no marco do correio as cartas escritas nos dias anteriores.
Pelo caminho, invariavelmente, falava-me dos temas das cartas desse dia... que, invariavelmente também, eram os mesmos das cartas dos dias anteriores:
as cartas endereçadas à rainha relacionavam-se com o seu problema de saúde mental (inexistente, segundo ele) e denunciavam e demandavam a justiça de Sua Majestade quanto ao já referido assunto dos dinheiros acumulados nos anos setenta enquanto Golden Star.
Sobre as outras, era um bocadinho mais secretista, visto que eram assuntos de estado entre o Reino Unido e ele, o comandante-operacional para a região do Sussex do Baader-Meinhof.
Sim, esse mesmo. O famigerado grupo terrorista alemão dos anos setenta.
Eu sempre tive inúmeros problemas em lidar com esta incapacidade que certas pessoas têm (ia escrever "pacientes", mas depois lembrei-me que há muita gente assim que nunca viu o lado de dentro de um hospital psiquiátrico)... a incapacidade que certas pessoas têm, dizia eu, de distinguir entre o real e o fruto da sua imaginação e, uma vez por outra, apanhavam-me completamente desprevenido e, essas situações, confesso, eram bastante difíceis de gerir.
Por exemplo: uma vez, depois de uma viagem de retorno praticamente sem diálogo, vínhamos já dentro dos muros que circundam a zona do hospital, já a chegar à porta do St. Anne's Centre, quando ele pára e me diz assim:
― Sabes, Joe... ― ele chamava-me Joe, aliás, tal como toda a gente em Inglaterra; "Joaquim" parece ser uma impossibilidade verbal para esta gente ― "Sabes, Joe... neste sábado, ia eu a passear em Londres, à porta da estação de metro de Tottenham Court Road... Sabes onde é? Em Londres? Tem aquele passeio muito largo..."
― Até sei. ― digo-lhe eu. E ele:
― Ok, no meio do passeio, estás a ver a enfermeira-chefe Camelia, sim?… Então, vejo-a completamente nua em plena rua. Tudo de fora. E em Tottenham Court Road (!!!) e não só nua... nua e ajoelhada no passeio, a fazer broches a todos os homens que passavam. Exactamente, de joelhos. Nua. Olha, nem joelheiras tinha... Nem joelheiras.

* Section 17 é uma alínea do Mental Health Act que reconhece ao doente o direito de usufruir de saídas do ambiente hospitalar e é considerada uma parte essencial da sua reabilitação e recuperação. Essas saídas são normalmente supervisionadas por um membro da equipe hospitalar. Com o tempo, se as experiências de saída acompanhadas forem positivas, o paciente pode passar a usufruir de saídas não-supervisionadas.
NOTA: soube, não há muito tempo, que P.S., o homem que inspirou este relato verídico, morreu em 2017. Descansa em paz, grande Golden Star. E podes ficar descansado, se voltar a encontrar a enfermeira-chefe Camelia, eu ofereço-lhe as joelheiras da fotografia.
A primeira vez
Joaquim Coelho
Sempre encarei o meu
trabalho de auxiliar de acção médica como
uma coisa temporária.
Puxei imediatamente o
alarme que trazia à cintura e o som típico
do mesmo, “a corneta das desgraças”, como
carinhosamente lhe chamo, disparou, ruidoso
como é seu dever, ouvindo-se por todo o
hospital.
Lembro-me de pensar
“oh pá, esta gaja vai lixar-me o dia.”
enquanto tentava desesperadamente enfiar os
meus dedos entre a pele e o fio eléctrico –
um fio eléctrico de rádio, daqueles
normalíssimos, com uma ficha na ponta para
ligar a uma tomada? Isso mesmo. – dizia eu?…
ah sim, o fio eléctrico que ela apertara à
volta do pescoço, já marcado com inúmeras
cicatrizes de outras tantas inúmeras
tentativas.
E, enquanto olhava
para aquela cara já claramente adornada de
tons de azul, a única coisa que eu conseguia
pensar era: “esta tipa não pode morrer…
vai-me estragar a porra do dia”. E, pior
ainda, vou passar o resto da vida a
responder a inquéritos e investigações nos
tribunais ingleses.
Confesso: a verdade é
que tudo o que me saía boca afora eram
palavrões, todos demasiado ofensivos para
poderem ser repetidos neste espaço e a ideia
assustadoramente clara que eu desempenhava –
naquele momento decisivo – um papel com uma
importância que dificilmente voltaria a ter
em toda a minha vida.
Lá consegui, por fim,
inventar um pouco de espaço para inserir uma
das pontas de aço arredondado da tesoura de
serviço. Tudo corria a mil à hora e os
membros da equipa, alertados pelo alarme,
começavam a chegar ao quarto número 1: eu,
já a tentar cortar o fio eléctrico e ela,
jovem, pequenina e magra; de cabelo
cinzento-estranho e carinha azul, sentada no
chão, aos pés da cama, com um casaquinho de
lã preta pelos ombros (“deve ser para se
proteger do frio no outro mundo” lembro-me
de ironizar).
Ainda sob o efeito da
adrenalina, controlei o melhor que pude, mas
sem grande sucesso, o tremor que me agitava
da cabeça aos pés e voltei ao meu trabalho.
Ao fim do dia, antes
de me ir embora, passei de novo pelo quarto
número 1 e ela, agora com um auxiliar
permanentemente sentado à sua cabeceira,
dormia tranquilamente como se nada se
tivesse passado. Vinda lá de um fundo
incerto, pelo corredor deserto, uma melodia
ressoava:
“But
maybe I’m crazy,
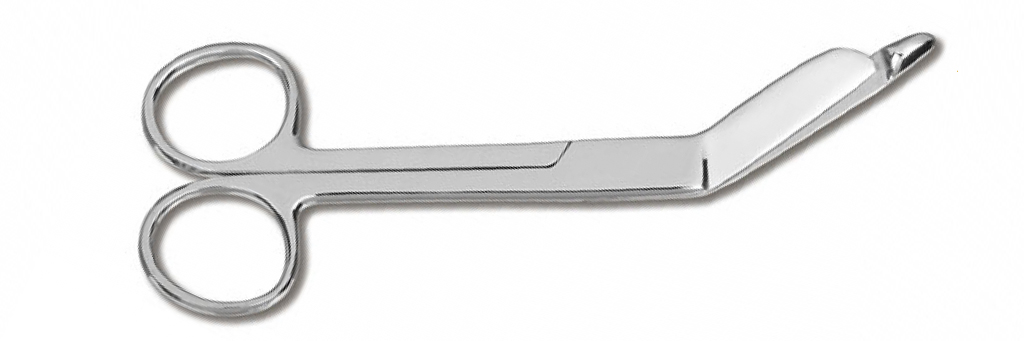
"Grab'em, floor'em, jab'em"
Joaquim Coelho
"Grab'em,
floor'em, jab'em"
(tradução aproximada:
agarrá-los, prostrá-los e injectá-los.)
Era mais ou
menos assim o "mantra" de um hospital de
saúde mental (privado) onde trabalhei, a
alguns quilómetros de Hastings.
Eu explico:
A primeira
restrição de movimentos em que participei em
Woodlands, logo no primeiro dia em que
voltei ao trabalho, depois da semana de
curso de PMVA*, foi inesquecível.
Afinal de contas, que me lembre, foi a
primeira vez que interferi intencionalmente
na vida de uma pessoa, de modo a
restringir as suas liberdades individuais e
sociais... nomeadamente, a sua liberdade de
movimentos e de escolha.
No hospital de
Woodlands, a imobilização de um paciente
para o medicar implicava, normalmente, que
todos os outros recursos (sejam eles
diálogo, medicação voluntária, terapia
ocupacional ou o diabo a quatro) tinham
sido esgotados.
Afinal de contas,
imobilizar um paciente significa, só para
começar, interferir com a sua liberdade
individual. Da mesma maneira que o gesto
de espetar uma seringa na sua pele, pode ser
facilmente ligado a uma violação da
integridade física. E que dizer de
injectar um (regra geral, potente) cocktail
de drogas que irão alterar
significativamente o estado de consciência
do paciente, sem que ele nada possa fazer
para o impedir?
Por isso tudo,
talvez, cada procedimento semelhante implica
sempre também uma montanha de papelada
que nunca mais acaba. E todos os
intervenientes na imobilização (cinco,
definem as boas práticas do NHS*) são
entrevistados após o evento e forçados (por
lei) a pôr por escrito a sua versão do
acontecimento.
Para mim, no
entanto, o mais difícil de esquecer é
sempre aquele momento em que o paciente pára
de se debater. Quando param os gritos e os
movimentos. Quando sente que foi
fisicamente subjugado e que não há
maneira de evitar o que se vai seguir.
Quando se entrega... quando desiste.
Já digo: que
bom seria sentir resignação uma vez
que fosse. Não só o medo denunciado
na respiração ofegante e tantas vezes
— sobretudo no caso das mulheres — pontuado
também por um choro, baixinho. Um
choro arrastado pelo desespero e por uma
vergonha inexplicável.
E aquele olhar
que foge de se fixar e que escolhe
olhar para cima e virar-se para dentro.
Irremediável e definitivamente.
* Prevenção e
Gestão de Violência e Agressão;