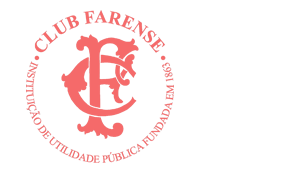O bom e o bonito
José Júlio Sardinheiro
Por favor, conta-me…
- Partilhar 29.12.2020
A narrativa, que durante muito tempo prosperou no círculo do trabalho manual – do camponês, do marítimo e, depois, do homem urbano – é, ela também, como que uma forma artesanal de comunicação. Não pretende transmitir o que há de puro em si nas coisas, como o fazem a informação ou o relato. A narrativa mergulha as coisas na vida do narrador para depois as ir aí buscar de novo. Por isso a narrativa tem gravadas as marcas do narrador, tal como o vaso de barro traz as marcas da mão do oleiro que o modelou.
Walter
Benjamin
Sempre gostei de
ouvir contar histórias e talvez por isso
admire bem quem as conta. Em mim, escutar
histórias, episódios da vida de quem os
relata ou de quem, os ouviu e, no momento
que os conta, fez seus, é memória da mais
recuada infância. Lembro que na minha terra
as histórias raramente começavam com o
tradicional “Era uma vez…”; isso era coisa
dos livros que não servia bem os propósitos
das narrativas que ouvia. Era normal narrar
um episódio começando por “Uma ocasião
estava eu…” e depois continuava, sempre na
primeira pessoa, mesmo quando o narrador
apenas tinha sido testemunha de algo,
assumindo o discurso directo do
protagonista. Foi assim que ouvi falar das
peripécias de um tal Zé Moca, calceteiro de
profissão, célebre por inventar patranhas e
exageros do calibre do famoso Barão de
Münchhausen que só muito mais tarde vim a
conhecer. Na verdade, nunca ouvi da sua boca
essas inverosímeis maravilhas, mas apenas
por interpostos narradores. Um dos episódios
mais antigos relatava o percurso entre o
quartel da cidade onde cumpria o serviço
militar e a nossa vila; percurso esse
montado numa potente moto emprestada pelo
comandante do quartel de quem dizia ser o
“impedido”. Já próximo, começou a avistar
gente que trabalhava nos campos
acenando-lhes e causando grande admiração e
lá ia nomeando a sucessão dos lugares. Isto,
em princípio nada teria de extraordinário a
não ser que no relato do que se passa em
meia dúzia de quilómetros encontrava gente a
desempenhar tarefas agrícolas de todo o
ciclo anual, coisa que era imediatamente
detectada pelos ouvintes bem conhecedores
dos trabalhos do campo. Uma outra que ouvi
era relacionada com a sua profissão de
calceteiro. É sabido que, para além daquele
martelo especial com que talham as pedras e
as batem para as colocar no sítio, é preciso
um maço (naquela altura um cilindro de
madeira de dois palmos de altura com um cabo
vertical) para bater e apertar a calçada.
Pois o Zé Moca gabava-se, nas tabernas da
vila, de ter feito um grande investimento em
cabos para martelos e adiantava “Agora
mandei vir da Alemanha um maço eléctrico
todo automático; estive a telefonar e já foi
desalfandegado no Porto… Vem por aí abaixo a
bater calçada sozinho. Uma maravilha! Quando
chegar cá já está pago!”.
Curiosamente, a
psiquiatria criou no início dos anos 1950 o
rótulo diagnóstico de “Síndrome de
Münchhausen”. Ainda que não se aplique a
estas situações – tendo antes a ver com a
simulação de sintomas com vista a obter
algum tipo de benefício, por vezes pouco
óbvio – faz-me pensar no que poderá haver de
necessidade
para que algumas pessoas desenvolvam uma
capacidade muito imaginativa para contar
histórias. Acho que sempre me interroguei
sobre a razão de ser de algumas pessoas
quase se especializarem neste tipo de
narrativa que pela sua mais do que evidente
inverosimilhança não pode querer enganar
ninguém.
Na área dos
cuidados de saúde a que me tenho dedicado na
maior parte da minha vida, em termos de
trabalho, estudo e ensino, tenho aprendido
bastante sobre as histórias que se contam,
mas, sobretudo sobre o modo como elas são
escutadas pelos profissionais de saúde. Há
mais de trinta anos encontrei um livro de um
quase desconhecido neuropsiquiatra chamado
Oliver Sacks, cujo título,
O homem que confundiu
a mulher com um chapéu,
escondia uma série de “histórias clínicas
romanceadas”. A partir daí comecei a olhar e
a escutar as narrativas que as pessoas
trazem associadas à sua condição de
“doentes” ou “pacientes” ou “clientes”…
Muitas vezes a minha observação incidia era
sobre quem escutava, seleccionava e retinha
factos de modo a dar-lhe
significado clínico.
Valerá a pena entendercomo significado
profundo do termo clínico que fica diminuído
quando tomado como equivalente a médico. Na
verdade, o chamado
modelo médico,
que contamina de forma totalitária toda a
linguagem simbólica dos cuidados de saúde,
acabou por cercear a narrativa e a própria
clínica, reduzindo-a muitas vezes a um
silêncio onde só falam os dados objectivos
dos exames. Mais do que isso, como ouvi em
tempos numa série de entrevistas ou
conversas com João Lobo Antunes, na Antena
2, este modelo já “educou” o público para
não fazer perder o precioso tempo dos
médicos e outros profissionais com
historietas, a ponto de, perante uma
tentativa de escuta clínica, já se ter
ouvido “o senhor doutor tem aí todos os
exames o que é que precisa saber mais?”.
Um estudo nos EUA,
de perto da viragem do século, citado por
Rita Charon, dava conta de que em média, um
médico interrompia a narrativa do doente ao
fim de dezoito segundos, sempre que este se
afastava do guião do médico. Esta atitude,
muito frequente principalmente nos médicos
impede a expressão do significado dos
acontecimentos de saúde e doença na vida da
pessoa, centra a atenção na doença e reduz a
pessoa a um mero doente portador de
sintomas. É mesmo, a referida médica e
professora da Universidade de Columbia, Rita
Charon que se torna a principal mentora de
uma corrente designada como
Narrative Medicine
associando o conhecimento da literatura,
artes e humanidades aos cuidados de saúde.
Os cuidados de saúde
podem assim evoluir com base na “competência
narrativa para reconhecer, apreender,
interpretar e ser tocado por histórias de
doença” de modo a procurar dar significado à
experiência individual de quem procura ajuda
num profissional de saúde.
Como tudo poderia
ser diferente se em vez de “então diga-me lá
do que é que se queixa…” o profissional
abordasse a pessoa, cumprimentando-a,
fazendo-a sentir bem-vinda, apresentando-se
e pedindo: “por favor, conte-me o que acha
que é importante eu saber para cuidar de si
e da sua saúde”.

Felicidade obrigatória
Agora eu era o rei
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei
A gente era obrigado a ser feliz
(João e Maria – Chico Buarque e Sivuca)
Às vezes surgem-me
palavras que nunca ouvi ou li, mas penso
sempre que já devem existir e, logo que
possa vou procurar. Primeiro, veio-me a
ideia da “felicidade” tornada quase
obrigatória em todos os momentos da vida, o
que faz com que alguém, que num determinado
momento não se sente feliz e animado, se
converta em alvo de uma espécie de
bullying
de uma espécie agentes especiais de uma
determinada psicologia dita “positiva”
enxertados em
coaching e
good vibes.
Em seguida surgiu-me a palavra para designar
esse estado. Também ela enxertada na língua
inglesa: Happycracia. Fui ver e o termo tem,
de facto uma utilização considerável, pelo
menos, em inglês (happycacy),
e também aparece em francês (happycratie)
figurando em títulos de livros (já há
ensaios e teses sobre o assunto).
Vem isto a propósito
de algumas conversas em que vejo, de um
lado, pessoas sofredoras e, do outro, sempre
alguém que sabe muito bem o que é isso e
desata a dar conselhos e sugestões por vezes
até em tom imperativo: “tu devias era…” ou
mesmo “tens de…”. O que se torna evidente é
que a pessoa sofredora, ao fim de poucos
minutos, já se está a sentir mais desgraçada
e incapaz, completamente inábil para lidar
com as dificuldades que no fim de contas são
“naturais”, “acontecem a toda a gente”, “
todos já passámos por isso”, “e tudo se
há-de resolver”, vamos “dar a volta por
cima”… Talvez comece a sentir inveja das
capacidades da pessoa que a aconselha;
talvez seja brutalmente invadida por um
sentimento de revolta e de uma raiva que não
pode expressar, porque o conselheiro está
cheio de boas intenções de ajuda sincera.
Quem gosta de passear
por livrarias apercebe-se que ao longo dos
anos as prateleiras de livros, chamados de
“autoajuda”, “motivação” e “psicologia
positiva” têm aumentado na mesma proporção
dos corredores de comida e acessórios para
animais nos supermercados. Não sei se isto
tem alguma relação entre si ou com o aumento
de consumo de medicamentos psicotrópicos,
mas podemos sempre consultar o pêndulo
biomagnético…
O que intriga a
minha curiosidade é este fenómeno triangular
que envolve pessoas que sofrem, outras
pessoas que estão sempre prontas para e
julgam saber ajudar e toda uma imensa
indústria orientada para felicidade. Cada
uma destas vertentes, merece uma análise
mais aprofundada que certamente já está
feita. Do lado das pessoas que sofrem, a
matéria é delicada e até pode parecer que se
desvaloriza o sofrimento face a narrativas
por vezes hiperbólicas – o sofrimento e a
dor só são medíveis na
subjectividade
– contudo é preciso ter em conta o que já é
um contexto cultural, pelo menos na nossa
sociedade, de não haver outro nome para
designar a tristeza face a uma perda sem ser
“depressão”
e de chamar “burnout”
ao cansaço e contrariedades no trabalho. Há
muitos, muitos anos ouvi de um ilustre e
velho psiquiatra que
o ser humano é
perturbável e
acrescentava que tem em si, igualmente, os
mecanismos para reagir à perturbação. O que
parece vir acontecendo é que há muita gente
que ignora esta capacidade e torna-se alvo
de uma crescente indústria de “terapeutas”,
“coaches”,
“mentors”,
e outros recursos e respostas motivacionais,
em tudo à semelhança de qualquer produto
comercial.
Tudo isto, na melhor
das intenções de ajudar as pessoas a ser
felizes. E parece que funciona, pelo menos
na aparência. São inúmeras as pessoas que se
sentiram ajudadas com estes terapeutas e
aprenderam muito nos muitos livros sobre
“como ajudar-se a si próprio” e usam esse
seu saber, também de experiência feito,
tornando-se também “motivadores positivos”
capazes de saltar a qualquer ai deixado
escapar por alguém das suas redondezas…
A maior parte usa
apenas o fraseado do senso-comum, mais ou
menos pincelado por algumas ideias da
chamada “psicologia positiva” e alguns
estudiosos um pouco mais sérios já
designaram como “positividade tóxica”.
(Come chocolates,
pequena;
Sabe-se lá! Se assim, entre parêntesis, não aparece uma placa com uma seta de sentido obrigatório para a Felicidade… Eu já vi uma que dizia “Paraíso”…
Espantar males
Não sou capaz de imaginar alguém que nunca tivesse cantado. Talvez uma pessoa surda de nascença. Fora isso, parece que o canto surge quase como “instinto inato” de protecção, provavelmente com a função de estabelecer uma conexão, um laço ou vínculo. Deve ser por isso que surge tão espontaneamente entre uma mãe e o seu bebé na mais tenra idade. Canta-se a alimentar uma criança, enquanto se veste, para adormecer; canta-se para brincar, para aprender movimentos; canta-se quando se passeia… E se pensarmos na presença do cantar na história da humanidade, encontramos testemunhos bem longínquos do canto associado a diferentes funções da vida e até a diferentes
temperamentos dos povos, como por exemplo, na antiga Grécia, donde herdámos os chamados “modos gregos”.
Por vezes encontramos pessoas que se recusam a cantar e dizem não saber cantar. Apetece-me sempre perguntar:
como é que aprendeu? Mas contenho a pergunta. Debaixo do aparente nonsense pode estar a questão fundamental. Se alguém diz não saber cantar, essa pessoa deve ter aprendido a dizê-lo e a tornar-se a si própria uma espécie de “deficiente” do canto. Há quem sustente que se passa o mesmo com o desenhar. Dêem um papel e um lápis a uma criança pequena e sai um desenho. E cedo começa a traduzir o que desenhou. Até “desaprender”. E aprende a dizer que não tem jeito para o desenho…
O mais maravilhoso do cantar surge quando se canta em grupo. Sabe-se que cantar em grupo faz parte das actividades comunitárias há milhares de anos e que é das mais emocionantes e transformadoras de todas. Diz a investigação nesta área que os cantavam em grupo desenvolviam uma união mais forte e foram os que sobreviveram. Pensa-se que a libertação conjunta de serotonina e ocitocina produz uma forte ligação entre as pessoas e até é capaz de sincronizar as batidas do coração. Cantar torna-nos mais fortes, constrói lealdades e traz melhores sentimentos e cooperação.
Cantar enche-nos de alegria e traz, de borla, extraordinários benefícios para a saúde quer do ponto de vista físico, como emocional e social. Entre estes benefícios contam-se o reforço do sistema imunológico, o exercício respiratório e circulatório, a melhoria da postura corporal, do sono; cantar é um antidepressivo natural, reduz o stress, melhora a concentração e a memória; alarga o círculo de amizades, aumenta a confiança e as habilidades de comunicação. É também uma forma de promover a apreciação de outros cantores, de outras formas e estilos musicais. Cantar abre-nos para o mundo.
Porque é que não cantamos mais?

e-Blue indo
Conheço-me desde
sempre a gostar das palavras. Desde pequeno
que brinco com elas, mesmo quando ainda não
sabia que os sons com que se diziam as
coisas e que me saíam da boca se chamavam
palavras. Lembro-me da palavra abóbora
(talvez dissesse “abóbra”, mas é exactamente
o mesmo) e como brincava com ela até a
transformar noutro som só meu. E lembro-me
de abóbora porque havia no quintal onde
brincava sozinho um monte de abóboras com
quem dialogava e que era uma verdadeira
plateia quando cantava para uma batata
espetada numa cana a fazer de microfone.
Sempre brinquei com as palavras.
Havia na família, do
lado do meu pai, uma certa tradição de fazer
trocadilhos, rimas e insinuações
pantomineiras e, quando se juntavam em
festas ou casamentos aquilo era um jorrar de
ditos e apólogos ou “vivas” aos donos da
casa, à cozinheira, aos noivos… Fascinava-me
a agilidade verbal (e verval) e a maior
parte das vezes nem percebia porque todos se
riam. Aquilo ficava-me na cabeça e depois
reinventava esses diálogos mesmo sem lhes
apanhar qualquer sentido. Era o som das
palavras, os ritmos, as inflexões, as
cacafonias… Era como se fosse uma outra
língua.
Gosto muito da nossa
língua. Penso que não deve ser diferente
para outros falantes naturais de outras
línguas, porque é na nossa língua-mãe que
melhor encontramos como nos exprimir. Um dia
encontrei um colega espanhol, da Andaluzia,
que me contou que a mulher, nascida no País
Basco de lá saiu muito pequena e nunca terá
aprendido a falar a língua basca (euskara)
no seu curto convívio com ela. Acontece que
quando nasceu o seu primeiro filho, naquele
primeiro momento mágico em que se olham, as
palavras de ternura e felicidade que lhe
saíram foram em basco. Deve ser por isso que
se chama “língua-mãe”.
Nas últimas duas
décadas e a propósito de uma salganhada a
que chamam Acordo Ortográfico vi surgir
paixões inflamadas e doridas de muita gente
a reclamar-se – muitas vezes num português
sofrível ou mesmo mau – defensores da língua
e da sua pureza contra os ataques vândalos e
sei lá que mais. Declaro aqui que não uso o
dito “acordo”, mas que isso não é por razões
linguísticas – a escrita é apenas uma
convenção gráfica com que representamos a
fala – mas por razões políticas – o dito
acordo não resolve problema nenhum, veio
complicar o que estava mais ou menos estável
e foi uma ilusão de um negócio internacional
que saiu furado. Posto isso, sou contra e
escrevo como me apetece e violo a regra
actual e, quando calha e me dá jeito, violo
também a antiga.
É claro que as
línguas evoluem, incorporam todos os dias
elementos de outras línguas e isso vai
acontecendo cada vez mais e só pode ser bom
para a comunicação entre os povos. O ideal
seria cada um poder exprimir-se na sua
língua natural e ser entendido por outros
que fariam o mesmo. Há cerca de vinte anos
participei num acontecimento no Parlamento
Europeu e assisti a algo parecido. Alguém
faz uma comunicação em francês e na
discussão há perguntas em inglês com
respostas que começam em inglês e acabam em
francês… Lembro-me de ter pensado como seria
bom que todo o mundo se entendesse assim.
Não faço ideia de
quantas línguas se fala no mundo inteiro.
Serão centenas, milhares… Há países em que
se falam várias línguas diferentes, a ponto
de ser necessária uma outra língua para
comunicar. O inglês impôs-se mais ou menos
como língua-franca e cumpre muitas vezes
essa função. Mas não é o inglês oficial, é o
broken english
ou mesmo bad
english que se
ouve e se lê por todo o lado, incluindo
contextos académicos.
Estou convicto de que
dentro de pouco tempo o mundo falará uma
espécie de crioulo, com base neste inglês
deturpado onde se vão incorporando termos e
expressões das mais diferentes línguas do
mundo.
Há cerca de vinte
cinco anos, no Livro Branco sobre a Educação
e a Formação: ensinar e aprender rumo à
sociedade cognitiva, já se preconizava como
elementar o domínio de três línguas
europeias, ou seja, a natural e mais duas
outras. Não sei bem como estamos, mas pelo
que me é dado a ver nos mais jovens o inglês
é língua comum e é muito interessante ver
como o programa ERASMUS fez mais pela
construção europeia do que tudo o resto. Até
o conceito de língua-materna vai mudar. Já
em muitos sítios, a língua que se fala em
casa é uma terceira língua que não é a do
pai nem a da mãe e também não é a que se
fala na escola.
Uma visão moderna da
Babel, uma Nova Babel para um novo
entendimento do mundo. Não para chegar aos
céus, mas para chegar à paz. Desejo.

É tudo mentira!
José Júlio
Sardinheiro

Grande parte do meu
tempo é ocupado a pensar em algo que poderia
genericamente circunscrever como
“conhecimento”. Neste grande saco meto tudo
aquilo que julgo já saber, o que vou
tentando aprender, o que desejo conhecer.
Interrogo-me muito sobre a razão de querer
conhecer o mundo em que vivo e saber coisas…
Aquilo que vou percebendo que outros sabem,
também me ocupa, às vezes, com uma certa
dose de inveja que não gosto de assumir. É
que há gente que sabe tão mais do que eu
sobre tantas coisas!... Onde realmente eu
quero chegar é ao jogo que jogamos uns com
os outros quando nos encontramos. Precisamos
de saber tanto para realizar esse encontro
que seria impossível enumerar. Mas poderá
estar aí o grande desafio de algo a que
alguns chamam de verdadeira cultura – tudo
aquilo que nos permite entrar em contacto
com outros e entendermo-nos nas nossas
diferenças e nos diferentes modos de ver o
mundo e de viver. Se houver alguma medida
para avaliar a densidade cultural de cada
um, talvez ela se traduza pelo número de
pessoas de diferentes contextos de vida com
as quais somos capazes de comunicar.
Muita da nossa
comunicação com os outros desliza sobre uma
capa mais ou menos lubrificada de
representações, mitos, histórias, anedotas,
provérbios, lugares-comuns, rituais… É por
isso que “candeia que vai à frente” se pode
ligar a outro provérbio e dizer que “um dia
lá deixa a asa” e esta mixórdia sem sentido
ter afinal um outro sentido para quem o
apanha.
Este discurso pode não
ser compreendido por um estrangeiro ou, até
mesmo, por um português das gerações mais
novas. Já não se vê ninguém de candeia acesa
(ou andar de candeias às avessas) nem ir à
fonte de cântaro à cabeça. De qualquer modo,
este saber baseado em provérbios estará já
mais destinado a ficar encerrado em alguma
literatura realista e neo-realista do que
ter alguma utilidade para os
night
runners ou para o abastecimento de água
às populações.
Olho para uma imagem
que representa um quadro de Magritte, aquele
que mostra um cachimbo e tem escrito que não
é um cachimbo. Penso que estamos ambos num
nível de realidade bastante semelhante, ou
seja, basicamente coligados por uma
artística irrealidade. Eu não vejo o
cachimbo que não é cachimbo no quadro que
Magritte pintou, mas uma das milhentas
fotografias que alguém tirou e que foi
reproduzida talvez milhões de vezes e
espalhada pelo mundo. Aquele cachimbo que
não é um cachimbo, não o é aos milhões. Não
sei quanto vale o quadro, mas fica
demonstrado que uma mentira, mesmo dizendo
que o é à vista de todos, pode valer muito
dinheiro.
E será mais ou menos
assim em todas as artes. Se não fosse a
mentira as artes não tinham piada nenhuma.
O teatro e o cinema
ilustram bem até onde o valor da mentira
pode chegar. O palco não é um quarto onde um
casal confronta as suas angústias e
contradições. Um quarto a que falta uma
parede para que o público possa assistir a
tudo. Os actores sabem que não são aquele
casal, mas comportam-se como se o fossem; e
sabem que aquele quarto só tem três paredes
e tudo se passa como se aquela intimidade
fosse verdadeira. O público sabe que o que
está a acontecer não é verdade e, apesar
disso emociona-se verdadeiramente.
Um romance escrito na
segunda metade do século XVIII, pôs os
jovens a vestir-se de calças amarelas e
coletes azuis e desencadeou uma onda de
suicídios por desgosto de amor, tal como o
que acontecia com o personagem da ficção de
Goethe.
A cumplicidade com a
mentira é um fenómeno poderoso. Os políticos
sabem isso bem.
Atirei o pau ao Schrödinger…
José Júlio
Sardinheiro

Demasiada fé na
ciência até pode dar em milagre que ninguém
se importará. Claro que há um complicado
problema metodológico a ter em conta, mas
isso não é nada quando comparado com a
experiência de Schrödinger, aquela em que
ele fecha um gato numa caixa com material
radioactivo, um frasco de veneno e um
contador Geiger. Não sei se interessa as
quânticas vidas que tem um gato, nem se isso
interessa o campo científico.
Há um lado da
ciência bastante interessante que alguns
cientistas viraram e reviram com mestria
poética. No fundo – e na forma – quando
ciência e arte se juntam indisciplinadamente
e dançam no terreiro transpoiético é que “o
mundo pula e avança” como escreveu
sabiamente o poeta António Gedeão que
durante algum tempo dormiu com a mulher do
cientista Rómulo de Carvalho sem que ela
percebesse.
É bem provável
que a maioria dos processos da ciência
comece com um “aqui há gato…”. É a
curiosidade, a desconfiança sobre a
aparência das coisas, o reparar naquela
pontinha de rabo de fora que mais ninguém
viu, até ao eureka final, que
normalmente não é o fim de nada. Na fé
religiosa é tudo bem mais simples. Deus
criou o mundo e tudo o que nele fazia falta
e pronto. Foi descansar. As gentes da
ciência nunca descansam e raramente ficam
descansadas com os resultados a que chegam.
É uma inquietação.
Na tradicional
canção infantil, hoje quase banida, pelo
menos na sua versão primitiva, todos
aprendemos a cantar “atirei o pau ao gato,
mas o gato não morreu”. Não sabemos se
intenção seria matar o gato, e estamos
perante uma experiência falhada, ou se era
apenas assustar o gato e aí caímos no campo
de alguma indeterminação de resultado, ainda
que com elevada probabilidade de o gato ter
dado um salto (quântico?) e desatar a fugir
e esconder-se em sítio seguro até as coisas
acalmarem. Certo é que terá dado um berro
que assustou a Dona Xica. Portanto, o gato
não morreu, ter-se-á assustado e soltado um
berro que por sua vez assustou uma senhora.
Isto de atirar alguma coisa a um animal é,
só por si, bastante reprovável nos dias de
hoje e até pode configurar um pan-demónio de
crimes e contraordenações e, se houver
intenção de matar, tudo depende do pau e da
pontaria. Em ciência isso terá outros nomes,
mas dá mais ou menos no mesmo. Em mecânica
quântica, poderemos estar a falar de um par
de variáveis complementares, mais
propriamente de um lugar que um corpo ocupa
no espaço – posição – determinado por um
vector que dará uma informação precisa sobre
a trajectória que o pau deve seguir.
Importante também é o chamado momento linear
que se calcula facilmente multiplicando a
massa do pau pela velocidade com que é
lançado. É só fazer as contas para constatar
que em princípio o que temos como certo é uma
grande incerteza.
Fiquem, pois,
tranquilos a Dona Xica e todos os defensores
dos animais que cientistas como Schrödinger,
Heisemberg ou Plank não torturaram animais
para elaborarem as suas teorias. Mesmo o
famoso “experimento” de Schrödinger não
passa de uma simbólica congeminação de
fórmulas e hipóteses sobre hipótese e outras
coisas que nem tento perceber.
Ainda assim e
para que ninguém fique angustiado só de
pensar nestas hipóteses de sofrimento
animal, soube-se recentemente que uma equipa
de cientistas da Yale University,
liderada por Zlatko Minev, descobriu como
salvar o gato de Schrödinger de estar morto
e vivo simultaneamente, através da
previsibilidade do momento em que ocorre o
salto quântico.
Resta agora saber se sempre que um qubit salta cairá de pé.
Absoluta mente
José Júlio
Sardinheiro

“Se creio em Deus? Não, creio em algo… muito maior”
(Umberto Eco, citando um dito atribuído a Rubinstein)
Vou lendo aos poucos um livro de Umberto Eco (Aos ombros de gigantes, Gradiva, 2018). Leio devagar e páro frequentemente para pensar. E volto atrás e releio um capítulo (o quarto, na ordem, já que não são numerados) chamado
Absoluto e Relativo. O que se segue é mais ou menos o que me acontece no espaço de uma entrelinha. Os percursos da mente são tramados. Não há sentidos proibidos, cancelas, barreiras… O espaço e o tempo são galgados num voo imparável…
É relativamente comum ouvir-se dizer “Ah, isso é relativo!”, ou até “Tudo isso é muito relativo”. Parece que isto tem a ver com o Einstein. Provavelmente é verdade, mas também é provável que não seja bem pela razão que a maioria das pessoas que usam estas expressões julgam. Sem nunca ter lido uma linha escrita por Albert Einstein, um grupo de adolescentes, com arrogos de intelectualidade, discutia o que julgava ser a Teoria da Relatividade quando na verdade o que acontecia era um fascínio quase erótico pelos paradoxos emergentes (um dia voltarei a este soberbo enunciado) que misturava física com filosofia e confundia a relatividade com o relativismo. Dizer que “tudo é relativo” era assim uma espécie de moda a que não se escapava apesar daquele espinho contraditório cravado à nascença naquela declaração absoluta. Mas isso não assustava aqueles adolescentes de há quase cinquenta anos e rapidamente a formulação evolui para “tudo é relativo, incluindo esta afirmação”. Depressa alguém se apercebeu do carácter também absoluto desta afirmação e deve ter sido por isso que começamos a interessar-nos por outros temas e alguns de nós até se encontravam amiúde num certo “baile de garagem” que, por acaso eram num sótão transformado em
boite.
Pouca gente se terá continuado a interessar pela teoria da relatividade, em boa parte devido ao poder absoluto das hormonas. Tirando um ou outro, mais nerd (o conceito não se usava na altura) com o destino marcado para seguir para o Técnico (Instituto Superior Técnico) excitar-se com Física Teórica, os outros eram rapazes relativamente normais e estavam mais interessados na “química” com a rapariga que tinham conhecido no tal baile… E excitavam-se com isso. Absolutamente. Isto é, sempre.
Muito mais tarde é que percebi que o interessava ao Einstein era o absoluto e não o relativo. Quando publicou a sua teoria, em 1905, nunca lhe chamou “da Relatividade”, nome que só se viria a utilizar mais tarde, mas sim, “Electrodinâmica dos corpos em movimento”.
Pois é exactamente a electrodinâmica dos corpos em movimento que sempre me interessou. A energia coregráfica fascina-me mais que todos os mapas do universo. Claramente.
o bom e o bonito (vai ser) 1
José Júlio
Sardinheiro

"É mais cómodo acreditar no que nos consola. Mais difícil é perseguir a verdade. Pois o verdadeiro não precisa limitar-se ao belo e ao bom. O amigo da verdade não deve pretender paz, calma e felicidade, pois a verdade pode ser muito feia e repulsiva".
(Nietzsche).
Dizia-me que ia
montar um negócio…
E eu que às vezes sou
moço assim de acintes ao contrário
mandei-lhe logo sem pensar: – E eu vou
montar um ócio!
A minha leviandade
leva-me por vezes para becos-sem-saída ou,
para apurar mais a redundância aforística, a
meter-me em camisas de onze becos, ou bicos
onde uns trazem água e outros apenas um grão
de metafísica na asa.
Lembrei-me então
que ócio, ao contrário do que muita gente
julga, não significa não fazer nada e ficar
ali de papo para o ar – embora isso do papo
para o ar até possa ser a verdadeira alma do
ócio – e não produzir algo que possa
contribuir para o PIB e ser tributado pelo
valor acrescentado. Não. O ócio é coisa de
pensar para além das minudências dos
negócios e nem sequer fica logo assim ao
alcance directo de quem nada tem para fazer,
por estar desempregado.
O verdadeiro
ocioso deverá ter a barriga cheia quanto
baste, sentir-se reconhecido na sua
existência como pessoa, ser capaz de amar e
de se deixar amar e estar mais ou menos
disponível para se dedicar a uma actividade
que lhe pode ocupar a maior parte do tempo…
Estão a ver?
Eu não estudei grego e nunca
percebi como é que me podia ver grego para
entender aquelas palavras feitas de pis,
alfas, lambdas, ómegas e rós, mas que
felizmente há sempre alguém que translitera
isso para algo a que estamos mais
habituados.
Há uma palavra grega que
podemos escrever skholé que significa “o
lugar do ócio” – “o tempo dedicado ao estudo
e à meditação”. Em latim, língua onde se
chega mais comodamente, temos schola ou
scholae. Ócio é o que se devia aprender na
escola.
Pois. Vou então montar uma escola
de ócio. Preciso dum sócio.
A lassidão do
post-prandium costuma ser boa para o ócio. É
assim um de papo-para-o-ar frequentemente
bastante produtivo e que também é uma grande
escola.
Procurar respostas a perguntas
pouco comuns tais como:
Como se chamam os
irmãos da irmã Lúcia?
De que se
alimentava Buda?
Maomé bebia chá de
Ceilão?
Que número de sapatos calçava
Jesus Cristo?
Dizem-me aqui que isto não
tem utilidade nenhuma…
Ah não? Então,
seria bom que o demonstrassem!
Agora vou
tomar um chá e escutar saturno.